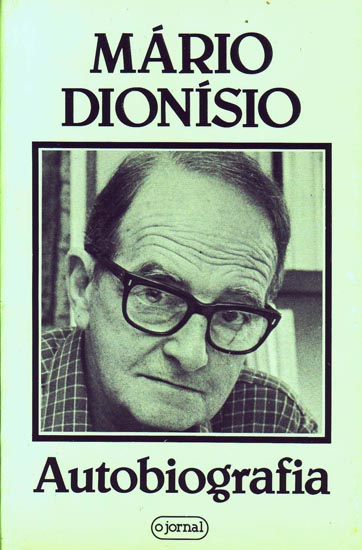Ligações rápidas
- Contactos
- Localização
- Catálogo Biblioteca do Centro de Documentação
- Catálogo Biblioteca Pública e Mediateca
- Programação
- Bibliografia Mário Dionísio
- Correspondência Mário Dionísio
- Espólio Mário Dionísio
- À venda na Achada
- Edições Casa da Achada
- Exposições itinerantes
- - Mário Dionísio - Vida e Obra
- - O 25 de Abril ao Ar Livre
- Vídeos sobre Mário Dionísio e a Casa da Achada
- Livros e textos de Mário Dionísio acessíveis neste site
- Amigos da Casa da Achada
- Donativos
- Assinar Newsletter
- Mapa do site
- Política de uso
- Especificações técnicas
Horário de Funcionamento:
Segunda, Quinta e Sexta
15:00 / 20:00
Sábados e Domingos
11:00 / 18:00
Áreas Principais
Lisboa: O Jornal, 1987, Col. Autobiografias nº3, capa c./ foto de Inácio Ludgero (1986)
Autobiografia
O Jornal, Lisboa, 1987
Contar a minha vida. Sempre que me falam nisso, imagino-me sentado num banco de cozinha, com um grosso camisolão, ombros caídos, a olhar por uma janela alta e estreita o que ela deixa ver da floresta. Alguém deixou um machado na pequena clareira em frente da janela. Andarão a rachar lenha. Grandes aves esvoaçam lá por fora, não muito alto decerto. E, além disto, silêncio. O profundo silêncio do que não volta mais.
Mas que floresta? Nunca vivi em nenhuma floresta. Nem sequer perto de. Talvez uma lógica interna — penso então — comande os próprios desmandos do nosso pensamento. E esse indivíduo mais ou menos ruço, no meio da cozinha lajeada, olhando o que não existe, queira dizer apenas que tudo foi bastante diferente do que eu teria desejado. Ou será a suspeita (uma quase certeza) de que contar a nossa vida é impossível. Por isso, à ideia de lembrar o que vivi e como, correrei a meter-me na pele de um qualquer em que mal me reconheço. É o que se chama atropelamento e fuga.
ao canto do piano, vector 2
Na rua Andrade, número dois, rés-do-chão, ao canto do piano. Eis o que, em garoto, invariavelmente respondia a quem me perguntava: onde é que tu nasceste? Ouvira qualquer coisa parecida, transformara-a. As pessoas gostavam de ouvir a patetice. Faziam-me repeti-la. Eu repetia-a. Ainda sem saber que 1916 havia de carregar-se deste peso todo nos meus ombros, confundindo, para mim, esse ano dos princípios do século com o começo do Mundo. Ano de guerra mundial — a «Grande»! — por onde o meu pai andou a fazer não sei o quê. Fotografias datadas de cidadezinhas francesas, que encontrei muito depois da sua morte, não cheiram nada a trincheiras nem a pólvora. Com camaradas, em bancos de jardim, outros em volta, todos milicianos com certeza, correia do cinturão a tiracolo, com polainas (reluzentes), sem polainas, boné ou capacete de campanha. Nalgumas dessas fotos esmaecidas, aparece, mascarado de mulher, era muito dado à festa, e não só ele, pelos vistos. Que mulheres mesmo, «les petites françaises», as «mon petit chou», as dos «déjeuners sur 1'herbe» nos dias de licença, não faltariam, olha quem, mas do lado da máquina, a gozar a brincadeira, fotografias para a família, para as esposas chorosas, para os filhos, coitadinhos, cuidadinho. Com essas fotografias, duas medalhas baças, escuras. «São as medalhas do teu pai.» Que fizera para merecê-las? Ele o sabia. Se seriam um prémio como que de presença. O que ele não sabia é que, anos e anos mais tarde, quando já não seria mais que pó e ossos sob a terra longínqua (Tete, em comissão de serviço, a ganhar o pão de cada dia), o filho viria a fazer o seu curso universitário sem pagar propinas por ser órfão de combatente. Com bom aproveitamento, já se deixa ver.
Porque houvera uma grande mudança. O aluno pouco mais que medíocre no liceu1 tomava corpo nas salas penumbrosas da antiga Faculdade de Letras, afinava a própria voz e ensaiava gloriazinhas locais. Embora nem tudo fossem rosas, longe disso. E mesmo as rosas têm espinhos, toda a gente o sabe bem. Dum desaire importante e bastante inesperado ficou-me só a pobre consolação de ter sido o primeiro a pronunciar em sessão pública naquela velha Casa, o nome de Pessoa. Bem antes, pois, de nascer e se espalhar por esse mundo fora o culto «pessoano», a que nos sentimos hoje todos obrigados, no duplo sentido da palavra. Estava-se em 1938 e era um trabalho bem modesto, apressado, superficial, uma pretensa introdução à leitura da «Ode Marítima». Para pouco mais que analfabetos. Coisas de que ainda coro. E se o arguente (Agostinho de Campos) lhe teceu, ao contrário do que eu esperava, tão desmedidos elogios, e perante tanta gente, só pude e posso atribuí-lo à audácia do tema, que era ali, também para ele, completa novidade. Já entretanto publicara, ainda no liceu, uma revista, Prisma, que só tivera um número, como merecia, e dois livrinhos (dois livrecos) que viria a riscar da minha tábua bibliográfica, tão verdes me haviam de parecer em breve. Sonetos e sonetilhos por aqui e por ali. Já fundara, co-dirigira e paginara, em 34, o semanário Gleba. Já entrara para a redacção de Liberdade, a convite da gente mais destemida desse tempo, tal como sucedeu, no mesmíssimo dia, ao Álvaro Cunhal, logo a seguir, ao Magalhães Vilhena. Como, anos depois, em 39, com um grupo maior, o grupo propriamente dito, ficaria à testa de O Diabo, escrevendo talvez de mais e, ao mesmo tempo, enviando o que podia ao Sol Nascente e a tudo o mais que aparecesse. Enfim, a pátria agradecida vos contempla.
A supradita rua Andrade — um dos vectores a ter em conta, chamemos-lhe o número 1 — era (e é) ali aos Anjos, onde o meu avô (paterno) consumiu a vida, sempre activo, muito alegre, atrás do seu balcão — fazendas, botões, nastros, linhas e retroses —, com altos e baixos de respeito na curva da prosperidade. O piano era o outro vector — chamemos-lhe o número 2. O avô (materno), que morava no Saldanha e tinha uma revista de teatro e música, Eco Artístico — vão-se anotando as diferenças... — dera à filha o curso superior do Conservatório (de piano, é evidente) e incutira nela o culto de Camilo e outros que tais, coisas que em casa dos futuros sogros seriam conhecidas, sim, mas só de ouvido.
Dois estratos, portanto, de uma pequena--burguesia trepa-trepa ou trepa-que-não-trepa, a meio palmo de distância na craveira social, mas com as suas rivalidades fervilhando em lume brando sob os sorrisos do bom entendimento, tem de ser. De um lado, herdei o respeito pelo trabalho e pela palavra dada, o dizer as coisas cara a cara, uma costela ainda orgulhosamente popular; do outro, o amor da arte, a atracção do invisível e um pendorzinho aristocratizante que há em todo o artista, seja ele qual e como for. Além disto (não esquecer), o avô paterno era almeidista e o materno, franquista. Os almoços de domingo, mesa grande e toalha muito branca, com a família toda reunida, e, a partir de dada altura, acrescentada com um novo membro (esse, afonsista!), acabavam sempre em clima de procela. Sem que os elementos femininos percebessem porquê tanto barulho. «Vá, acabem lá com isso.»
poder escolher
Filho único, não cheguei, porém, a contrair as maleitas de tão vantajosa situação, ou depressa delas me curei. Mas não ponho as mãos no fogo. Quem sabe se uma sensibilidade às vezes exagerada (nunca tive vergonha de chorar, se é caso disso) não virá daí mesmo?
Sem pai aos onze anos (tinha ele trinta e quatro), sem avô paterno aos quinze (o materno já lá ia há muito), sem mãe aos dezassete (tinha ela trinta e oito), vivendo depois com uma avó atingida por doença mental, que uns tios haviam de levar para sua casa, longe, cedo me vi completamente só, cercado pelos tais lobos do homem, aliás excelentemente engravatados, os pequenos, melífluos sorrisos, mão rapace. Senhores! Como é que, com dezassete anos e a exclusiva experiência de menino de família, se administra um prédio a cair aos bocados, ainda por cima hipotecado — era a herança —, e se lida com usurários que exibem na parede, por trás da secretária, este dístico solerte que nunca mais esqueci: «A melhor maneira de perder um amigo é emprestar-lhe dinheiro»? O caminho era vender, vender depressa, ainda que ao desbarato, pagar tudo e mais que fosse e, depois, ficar roendo o que restasse. Se alguma coisa restasse.
Foi então com certeza que nasceu em mim para todo o sempre o horror ao mundo dos negócios, o conceito de explorado e explorador (muito antes de ler Marx), a ânsia quixotesca de transformar a vida (nem de nome conhecia ainda Lenine), a descoberta de que o trabalho é a única solução para quem, não preferindo suicidar-se, queira viver com alguma dignidade numa sociedade que a não tem. Mas trabalhar em quê?
Houve aqui um factor decisivo. O desaparecimento dos meus pais, ambos tão jovens e em tais circunstâncias. Ele, em Africa, por falta de meios de tratamento. Ela, em Lisboa, por erro de diagnóstico: tinha uma pleurisia e tratavam-na de cálculos nos rins! Vêm-me acordar, alta noite, «menino, menino, a sua mãe!», corro ao hospital, ouço-a dizer — ou julgo ter ouvido — «sê sempre bom, meu filho», descem-lhe a cama articulada, enquanto o dia desponta, atalham-lhe os queixos, como se aquilo não fosse já a minha mãe e não era, a verdade é que não era. Eis o que explicará aquela angústia, aquele cepticismo tão pouco próprios da idade. Uma visão do mundo alheia a toda a esperança, que a versalhada que fazia bem deixaria ver, se, com louvável e oportuna sensatez, a não tivesse rasgado. O mais negro do Antero é que me sabia bem. E o Nobre, está claro. Embora já não fosse meu livro de cabeceira. Mas tanta desventura deu--me afinal (cinicamente se diria: há males que vêm por bem) a felicidade suprema de poder escolher.
A família destinara-me a Direito. E lá tinha as suas razões, sobre as quais ninguém me ouvira. Assim se usava ao tempo. Mas agora, que podia fazer de mim o que quisesse (nem sempre é doce a liberdade), de modo algum me apanhariam em Direito. Escolher o que menos rende? Por que não? Era Letras o que eu queria. Letras escolhi, com algum equívoco, sem dúvida.
começa a dispersão
Não pensava ainda em ensinar. Dois professores que tivera no liceu (os dois únicos dignos desse nome entre tantos que me couberam em sorte, em Lisboa e em Évora) haviam sabido despertar em mim o hábito e o gosto da leitura. E, com eles, um desejo maior: o de escrever. Lembrarei sempre os seus nomes com compreensível gratidão: Arnaldo Mendes um, no meu terceiro ano, tinha eu pois treze, Câmara Reys o outro, no meu quinto, quando entrei, portanto, na minha primeira greve (quase ainda de cueiros), de solidariedade com a revolução da Madeira.
Do primeiro, nunca mais ouvi falar. Senão, umas boas três décadas depois, no fim de um jantar de inesperadas coincidências. «Quem, o Arnaldo?» — disse alguém por alturas do café — «Coitado!» Deixando este «coitado» envolto num mistério (pena? reprovação?) que pouco duraria. Quanto ao segundo, viria a ser seu companheiro literário (na Seara Nova), seu feroz opositor (por causa da Ficha 14 e da sua obstinação em não deixá-la publicar)2, de novo seu amigo e companheiro, outra vez na Seara (o horror a Salazar operava milagres!) para sempre. Mesmo quando todos lhe cortavam na casaca por ele, velho inconformado, passar as tardes na «Caravela» com mocinhas virtuosas que o chupavam até ao bago que restava. Ele me dissera um dia, com o arzinho risonho de isto aqui só para nós, comentando-me uma redacção, e de francês: «Há aqui qualquer coisa. É preciso continuar.» Alvoroço cá por dentro, ah pois não! Recordo-o nessa altura (apesar de então tão jovem!) como uma avó carinhosa, os óculos de aro de prata, a extremidade do nariz redonda e encarnada: «Há aqui qualquer coisa.»
Foi o outro, porém, que mais profundamente me marcou. Aulas de chamamento e transfiguração. Um lume ardendo algures e a corrente, como diria o meu velho Jean Guéhenno, por ele passando. «O professor só se sente feliz se [as ideias] irradiam algum calor, em si mesmo contagioso, de tal modo que toda a sua aula acaba por se tornar uma assembleia de espíritos felizes, entre os quais, remexendo nas brasas, ele faz crescer as chamas (...). É uma presença transmissora: é por ele que a corrente passa.»3 Era por ele que ela passava. E de que modo! Como lia! Como nos levava a ler! Como fazia erguer as chamas! «O carro lento passou e logo atrás surdiu um homem esgrouviado e escuro.» A magia do Eça. «Com sua licença —disse mestre João.» Paragem de expectativa, o remexer nas brasas. «Dizendo, fechou por dentro ambas as portas, e sentou-se sobre uma arca.» Atai arca que aparecia ali, talvez se lembrem, para criar o ambiente todo duma vez. Suspensão novamente, agora de outra espécie. «Ora, continuou ele, descendo as mangas arregaçadas da camisa e apertan-do-as com dificuldade nos grossos pulsos, como quem sabe a etiqueta das mangas.» Desta vez era o Camilo.
Tivera faro o autor da Selecta (Xavier Rodrigues, se não erro) e muita arte o professor. Não têm conta as vezes que reli estes dois textos, um da Ilustre Casa de Ramires, como se sabe, outro do Amor de Perdição, como também se sabe.
Saboreava aquela linguagem nova feita de palavras velhas, queria vê-las por dentro, entendê-las com a vista e o ouvido, fazer como, que é o que no princípio mais a gente quer. «Fuja, fidalgo que me perco!... Fuja, que o mato e me perco!» E o fidalgo fugindo «na ponta das botas brancas, sobre o chão mole das chuvadas». E o João da Cruz apertando as mangas «nos grossos pulsos como quem sabe a etiqueta das mangas», antes de começar o seu discurso. Encantamento! Aquele «na ponta das botas brancas» e aquele «como quem sabe a etiqueta das mangas» ficaram para sempre comigo numa obscura, vivíssima lembrança do poder da simplicidade e do que é afinal literatura. Quem não pensar assim que me perdoe. Mas foi a fome de chegar a qualquer coisa como essas (a ambição de quem começa é desmedida) que me acordou para o amor louco que é escrever. Não sei se de qualquer modo ele viria. Sei que assim foi.
Ora Letras (o meu «capuchinho vermelho» assim julgava) era a pátria por excelência da leitura e da escrita. No velho casarão, a Jesus, tudo seria literatura. Era a morada da poesia.
Que ilusão! E essa ilusão («ó avó, para que queres uma boca tão grande?»), foi responsável do meu primeiro erro importante, ao que suponho: quando precisei, estudante ainda, de arranjar trabalho, em vez de o procurar numa oficina, por exemplo, como tudo indicaria — pela minha arreigada tendência artesanal, pelas «minhas ideias»... — tive a fraqueza de recorrer ao pouco que sabia e começar a dar lições (tormento dos tormentos) e até aulas, desastradamente com certeza. Tinha o destino marcado. Eu o marcara.
Ensinar como simples ganha-pão é repugnante. E era o que então fazia. Num colegiozinho de má morte, ao Bairro Alto, onde o não ter o curso concluído nem possuir qualquer diploma para o ofício permitia ao director pagar-me o que bem lhe parecia. Um director de truz, bigodeira de pontas reviradas, bata branca, que também dava a sua aula, sim senhor, mas se ocupava muito mais com vender aos cachopos cadernos, lápis, rebuçados... Artigo 1.° (pensava eu, imaginando leis fundamentais que deveria haver): é expressamente proibida qualquer forma de negócio em matéria de ensino. Mas só mais tarde sentiria a grande revelação: ensinar de verdade (forma excelsa de comunicação), reaprender sempre a ensinar, ensinar a ensinar. Como um profissional. Indispensável. Mas também como uma dádiva feliz e inteira, exactamente igual à que exige o acto de criar seja o que for. Depois disso, raras vezes ensinei com sacrifício. Não direi «nunca». Mentiria. O normal era, contudo, fazê-lo com verdadeira entrega interior e algum êxito, parece. Desde a escola do ensino técnico onde verdadeiramente assentei praça (ainda aí só quase ganha--pão, mas já só quase), ao trabalhoso e abençoado estágio, interrompido durante dezoito anos (malhas que o Império tecia...), aos longos anos no particular — não tinha outra saída —, ao ensino secundário oficial, em vários dos seus escalões, à metodologia, à Comissão de Estudo da Reforma Educativa, a que presidi, logo após o 25 de Abril (era ainda ensinar, era ainda paixão), enfim, à Faculdade, onde a história acabou quando tinha de acabar4.
Nunca consegui convencer deste prazer e sobretudo da sua utilidade os escritores meus amigos. Eles viam na maneira absorvente como ao ensino me entregava a mais indesculpável das infidelidades. Que assim não podia ser. Que eu não nascera «para aquilo». Nascera «para mais», pensavam eles. E enchia-me de tristeza que não pudessem perceber. O Ferreira de Castro, por exemplo, quando, no Verão, estando ele em Sintra e eu em Galamares, nos encontrávamos com bastante frequência: «Cuidado! Não deixe passar a idade. O tempo voa...» Mas os «piores» eram o Carlos de Oliveira, o José Gomes Ferreira, o Cochofel. Porque com estes estava eu todos os dias, tinha-os ali à perna. O Carlos —olha quem! — nem pensar em desarmar. «Então agora são só pedagogias?» Irónico, implacável. E logo sério, com a amizade do costume: «Mas não tem escrito nada? Mesmo nada?» Como se o mundo fosse acabar por isso. Já publicara aliás grande número dos meus livros. E mentia para mudar de assunto. Mas não mentia muito. Na verdade, escrever era o meu vício. Andava às voltas, havia perto de três anos, com o Não há Morte nem Princípio, cujo original ele, a seu tempo, leria com o empenho que só os amigos sabem o que é. Com o mesmo com que eu lia os dele, cheios ainda de emendas, papelinhos colados, a insatisfação em carne viva.
Salvo em períodos excepcionais, que infelizmente não faltavam, todos os dias escrevia. Embora sempre menos do que seria necessário. E rasgava, rasgava. Mas lá disso, espera lá que já ia falar-lhes! Por causa do Carlos, sobretudo, que, ao contrário do que muito tempo se supôs, era um mouro de trabalho, sempre a fazer, a desfazer, a refazer, e eu censurando-o por isso, que assim não podia ser, «deixe-se disso, atire-se a coisas novas». Enquanto eu fazia o mesmo. Que saudades!
Mas, às vezes, dizia cá para comigo, à procura de razões, a gente quer sempre ter razão: dedicar tanto tempo a originais alheios, publicar a primeira notícia sobre tantos estreantes, pertencer a júris (que canseira!) de literatura ou arte, por cá e lá por fora, teria sido possível sem uma tão teimosa tendência pedagógica?
Que havia de desgraçar-me. Um belo dia, a Seara Nova, numa nota da secção «Factos e Documentos», que era o que se ia logo ler, intitulada «Explicar», que é que havia de dizer? «As críticas de Mário Dionísio, no Diabo, dão-nos uma gratíssima impressão de espírito crítico verdadeiro, feito de clareza e de bom senso, de coerência, de lucidez.» E desenvolvia-se a ideia5.
Bonito serviço! Não era lá o elogio. Que isso de elogios (alguns tive, como toda a gente) nunca me fez desviar do meu caminho. O pior foi saber-se que a nota da famosa secção, como todas anónima, era do punho do António Sérgio. E, aí, as coisas mudavam de figura, como bem se calcula. Caiu-me tudo em cima (até Sérgio o dizia...) e eu próprio me terei deixado impressionar. O mal que, por bem, o mestre dos Ensaios me fez!
Estava apanhado no laço. O meu dever seria, então, criticar, analisar, estimular, ajudar, «explicar», entrar para o convento, enfim, e deixar-me de outras veleidades. «Faça lá o seu verso» — con-cedia-me um jovem romancista, passando um dedo vagaroso no bigodinho à Menjou e sobretudo interessado em que escrevessem sobre ele —, «mas a crítica é que é o seu caminho».
Criticar, em público ou em privado, apreciar originais, sugerir alterações, corrigir erros de língua por de mais arrepiantes se era caso disso, e muitas vezes era, passou a ser o meu dever, a minha obrigação, a actividade número um, a minha canga. De que só tarde, muito tarde, viria a liber-tar-me.
Devo, aliás, a esse erro de agulha, ingenuamente consentido, ter conhecido pessoalmente, com mais ou menos demora, os Aragon, os Carpentier, os Vittorini, os Moravia, os Carlos Levi, as íris Murdoch, os Semprun, os Vargas Llosa, tantos mais que o vento traz ou leva. E também conhecer outros lados da vida — conhecer não ocupa lugar, ao que se diz —, como no Prémio Internacional de Literatura, a alguns palmos de Corfu, onde os pirilampos são do tamanho de azeitonas e as azeitonas, de abrunhos, no confortável, moderníssimo hotel, todo por nossa conta (jornalistas, escritores, homens da rádio e das TVs), um quarto dando para a praia, passam secretárias de editores, em biquini, com grossas pastas debaixo do braço, novidades. Um grande editor alemão entra na sala imensa às cambalhotas. É a festa. E a entrega do Prémio Formentor no Casino instalado nos cocurutos da montanha, escadarias fofamente atapetadas, roleta, os terraços barrocos iluminados por grandes lampiões neo-românticos, serviço excelente e permanente ao ar livre, noite fora, já provou esta língua escarlate?, e a galantine?, aquela a dançar descalça parece mesmo a Elizabeth Taylor, tudo muito «l'année dernière à Marienbad», a dolce vita... Intervalos do lê, anota, volta a ler, escreve lá o artigo.
Foi útil o sacrifício? Sinceramente, creio que não. Mas, mesmo que o tenha sido, em parte, um pouco só, onde fui eu buscar essa estranha, quase mística decisão de cingir o cilício? À esperança de ser tudo provisório?
A obsessão do dever, o escrúpulo de cumprir o combinado, a tendência para estar sempre a horas (pontualidade = minutos antes de) sempre foi muito forte em mim. Possível conclusão: a educação conta mais do que se julga e a actividade clandestina, que é também uma escola, conta ainda mais. E quem pensar que o digo para gabar-me, não esqueça, para não errar, que tal tipo de comportamento nunca foi coisa de que artistas costumem orgulhar-se, nem muito propícia, na verdade, à criação. Para certos temperamentos, como o meu: a arte nada tem com qualquer espécie de negócio e tudo com o ócio. De que nasce.
Vêm-me à cabeça casos em que espontaneamente esta necessidade de cumprir foi posta à prova. Em 1963, tendo aceitado colaborar num número de O Tempo e o Modo, dedicado por sinal ao tema de se «A arte deverá ter por fim a verdade prática», cai-me em cima da cabeça a necessidade de fazer uma operação de urgência. «O Carneiro de Moura tira-lhe isso num instante!» – mandou-me dizer o prof. Pulido Valente, que, com a amizade que sempre lhe devi, diagnosticara rapidamente o mal, já no leito de que não mais se levantou. «Isso» era um simpático quisto sebáceo, do tamanho duma laranja, o sacripanta, bem agarrado à parede exterior do rim, que outros me queriam arrancar, não o quisto mas o rim... Em exames prévios e inúteis já me tinham provocado uma excelentíssima infecção que ia acabando ali comigo. Dei, pois, entrada no Hospital de Santa Maria em estado lastimável, sem tempo nem cabeça para escrever fosse o que fosse, adeus depoimento. Mas, na véspera da operação, à noite, quando a minha mulher, inquieta, se despedia, até ao dia seguinte (horas boas!, inútil é contá-las a quem as não conhece de vivê-las!), digo-lhe eu, a fazer de homem que não treme: «Amanhã de manhã, quando estiver na sala de operações, vem ver na gaveta aqui na banca. Se este bloco tiver alguma coisa escrita, passa-a à máquina, por favor, e fá-la chegar ao Bé-nard da Costa. Vou tentar». E assim foi. Quando a enfermeira abriu a porta com os comprimidos da praxe, eu estava dentro da rotina por experiência, pedi-lhe que voltasse dentro de meia hora, poderia ser? Ela que sim, amável, parecia adivinhar, e eu, mal sentado na cama, lá consegui rabiscar em cima dos joelhos, que não sobre o joelho, um pequeno texto que era quase o prometido6. Guardei o bloco na gaveta, esperei o regresso da simpática enfermeira, engoli os comprimidos e, todo entregue já ao meu destino, apaguei a luz satisfeito comigo. Tinha feito o possível.
um novo sol no coração do homem
Mas Letras não fora só aquele estendal de miséria docente (com excepções, sempre há excepções), aquele formigar de jovens, quase todos de nível económico pouco mais que precário (por isso a maioria deles para lá ia), a tentar, ano a ano e cadeira a cadeira, alcançar o canudo que os encaixasse na vida. Letras foi também o local privilegiado da minha própria descoberta: o franganote, quase galo, escapa-se da capoeira. Ali me pus a escrever a sério, incluindo a ingenuidade dos começos, que me valeu uma trepa certeira do Álvaro Marinha de Campos, que nunca mais esqueci, tão justa era.7 Ali conheci de perto pessoas de nível excepcional, outras não tanto, outras, as pobres, nem falar nisso é bom. Entre as primeiras, penso logo no Alberto Emílio de Araújo, figura ímpar que este pobre país ignora, no Fernando Piteira Santos, no Alvaro Salema, no Magalhães Vilhena, no Vitorino Magalhães Godinho... E, entre os segundos, por exemplo, num literato que dispunha de corte privativa (era tão coxo que tinha sempre gente frente ao banco de que dificilmente se levantava) e que co--dirigia a revista Momento, uma espécie de réplica da presença, bem fraquinha por sinal (figura tutelar: António Botto), com a chancela da qual foi editado o primeiro dos tais livros que resolvi esquecer. Ali intensifiquei a minha actividade política (clandestina, pois claro), bem empenhadamente, alguns o lembrarão. E isto me lavou por dentro de ter pertencido fugazmente, com os meus dezasseis anos (no bom pano cai a nódoa, quando mais no surrobeco) a um grupinho chamado «Núcleo de Propaganda Educativa/Novos de Portugal» — onde teria eu o nariz?, até o nome cheirava —, uma pífia funçanata que, embora inócua, iria, se lhe dessem algum vento, no sentido oposto àquele que era o meu.
Era o tempo do Bloco Académico Antifascista, do jornal ilegal Barricada, do Socorro Vermelho Internacional, saberão o que isso foi. Na casa onde então vivia, sem família, se guardou e organizou algum tempo o material para o órgão do «Socorro». Na mesma casa noutra altura: pulo da máquina onde bato um artigo sobre o Maiakovsky, para a Seara. Os ardinas estão a berrar na rua, por baixo das minhas janelas: «Rebentou a guerra! Rebentou a guerra!» Outra guerra. Mais selvagem que todas as passadas.
Na Faculdade, pois, a política ilegal e meio--legal: eleições para delegados ao Senado Universitário (pela última vez), assembleias para a criação de uma Associação de Estudantes, que não havia e continuou a não haver, protestos contra a expulsão do Prof. Rodrigues Lapa. Ali conheci, enfim, aquela que seria a minha companheira para sempre, nos bons e nos maus momentos. E nos péssimos também. Como o da grave doença revelada dezoito dias depois do nosso casamento (sangue no chão de tanta felicidade) e que durou três longuíssimos anos. Ela mantinha a casa, ela me inventava a esperança. Misteriosamente. Alegremente, se assim se pode dizer. Coração mais cabeça e muita dedicação, eis de onde vêm os milagres.
Mas voltando ainda à Faculdade. Não sabia onde começava e onde acabava o amor, a luta pela liberdade e pela transformação do mundo, a criação poética. Engolia o Altolaguirre, o Emilio Prados, o Lorca muito menos (nunca soube explicar isto, tenha embora um poema que parece inspiradíssimo num dele mas não é: desconhecia ainda o belíssimo «eran las cinco en punto de la tarde»), o Rafael Alberti, mais que todos talvez. Sonhava declamar, como ele, um grande poema na frente de combate. A minha convicção era que versos de tal modo declamados (mas tinham de ser bons, era o que já pensava) fariam recuar os tanques do inimigo, quebrar grades de cadeias, erguer bandeiras com multidões de esfarrapados atrás delas. Armazenar os explosivos. Pegar fogo ao rastilho. Vieram-me dizer: «Foste falado nos interrogatórios desta noite. Põe-te a andar».
Desapareci de Lisboa até serem libertados os interrogados dessa noite, meti-me no Alentejo, encontrei gente que só conhecia dos romances de Gorki. Tratavam-me como um irmão, davam-me a chave da própria casa, «para se precisares, de noite». E não eram operários nem rurais. Um trabalhava numa farmácia, outro nos Caminhos de Ferro, outro num escritório. Chamava-se este Marquês. Por meu intermédio entrou na actividade clandestina e, quem o suporia então?, seria morto anos mais tarde nas torturas da PIDE.
Quantas horas tinha cada dia? Quantos éramos ao todo? Impossível sabê-lo. Sabíamos, sim, que a situação portuguesa não se podia suportar (e trinta e muitos anos mais a suportámos), que ela se integrava, numa situação internacional a nossos olhos de leitura fácil, que obrigava a tomar e a fazer tomar partido. E que a única esperança brilhava, muito longe, nesta frase do autor de Tomás Gordeiev. «Nasce um novo sol no coração do Homem». Frase que forçosamente se confundia, para muitos de nós, com um país imenso, onde houvera a maior Revolução do nosso tempo, raivosamente defendido de múltiplas e simultâneas tentativas de invasão, heroicamente resistindo à fome, à neve, à falta de quadros superiores: «Proletários de todos os países, uni-vos!» País sobre o qual muito líamos e falávamos, sobre o qual afinal pouco sabíamos e era, seria o centro de tudo durante muitos anos.
Ou se mudava o Homem, ou não se mudava nada. Era o que pensava então, é o que penso hoje. Os versos do meu livro Poemas (36 a 38) disto falavam, os de Terceira Idade (82), também. E o mais que escrevi. Escrever é outra coisa («uma coisa é ver, outra pintar», Picasso), mas relaciona-se com tudo.
A guerra de Espanha, aqui ao lado, vivida dia a dia e hora a hora com o ouvido colado aos aparelhos de TSF, por causa das interferências meticulosamente provocadas, por causa dos vizinhos (fossem eles quem fossem), com projectos ansiosos de ir lá ter («Partir./Partir para a pátria instável onde o grito salta das veias», versos meus de 38) e o remorso de ficar. As notícias diárias dos bombardeamentos, dos fuzilamentos, das aldeias destruídas, sem pão, sem armas. E o «no pasarón!». O não passarão vibrando no nosso desespero, ainda antes de gritado nas barricadas de Madrid, sentido em silêncio e lágrimas, neste país agrilhoado, esvaziado, com os amigos perseguidos, presos, torturados, muitos deles mortos não se sabia onde.8 Houve um tempo em que nem saber onde estavam se podia.
Tudo isso foi raiz (e corpo) do neo-realismo. Do neo-realismo de que participei desde a hora antes do amanhecer, com o Joaquim Namorado, o Redol, o Namora, o Fonseca, o Carlos de Oliveira, muitos mais. Do neo-realismo que rapidamente se propagou e diferenciou. Que era e continua a ser motivo de confusões intencionais, involuntárias, talvez inevitáveis. Apesar de tudo o que, também eu, sobre ele escrevi e repeti. Dos estudos que alguns lhe têm dedicado.
Nós amávamos muito e sabíamos pouco. «A reforma social» (e estética) «esbarrava na própria sociedade néscia que havia sido o caldo de cultura dos neo-realistas e também o [de mim] próprio», como bem diz um estudioso do movimento, ele próprio neo-realista, embora não da primeira vaga.9 Líamos Barbusse, Gorki e Gladkov, os brasileiros, misturando Romain Rolland, Oscar Wilde, Tolstoi e Erich Maria Remarque, Panait Istrati e Malraux. Vagamente conhecíamos o Orpheu, pouco melhor a própria Presença que tão juvenilmente combatíamos. Moralmente, estavam-nos vedadas grandes paixões futuras: o Proust, o Gide, Katherine Mansfield, tantos e tantos mais. Muitas vezes me espanta como, com tão pouca bagagem, podíamos viajar até tão longe.
A luta entre neo-realismo e surrealismo foi em parte um equívoco a que o nosso gueto forçosamente nos levou. Ao contrário do que aconteceu em França, o surrealismo em Portugal é posterior ao neo-realismo. Lá, muitos surrealistas, a começar por Aragon e Éluard, se tornaram comunistas e deram então à sua obra um cunho directamente social e político. Aqui, pelo contrário, foram os neo-realistas, não muitos na verdade, que se tornaram surrealistas e se afastaram duma frente de combate que não lhes oferecia o espírito de renovação estética a que aspiravam. Aqui, ao contrário do que aconteceu em França, é a poesia de carácter directamente social que adoptará métodos criativos que só o surrealismo poderia fornecer-lhes. Não foi o que eu próprio fiz n' O Riso Dissonante, por exemplo, ou no Feu qui dort: «une pluie de taureaux est tombée sur la ville»? Dizer a verdade é bom.
Entretanto, valerá a pena ao menos insistir em que: primeiro, nunca concordei com a designação de neo-realismo, que se deve a uma infeliz inspiração de momento do Joaquim Namorado, meu grande amigo até à morte; segundo, para mim, «neo-realismo» não era nem poderia ser uma outra maneira de, por razões de censura, dizer «realismo socialista»; terceiro, para mim ainda, o neo-realismo deveria ser a expressão estética duma visão marxista do mundo e, sendo esta tão complexa como se sabe (quem o sabe), aquele movimento — nunca «escola» — teria de desdobrar-se em diversas maneiras, gostos, soluções imprevisíveis — o que efectivamente aconteceu. O seu domínio seria o do «extremamente complexo conhecimento dialéctico do homem» (Lenine). Complexo e dialéctico, façam favor de tomar nota. Seria a voz duma classe em ascensão, de um mundo (um homem) necessariamente novo, que, como tal, teria de integrar toda a herança do passado, incluindo a da classe a que se opunha. Aí estava a utopia.10
Mas que trapalhadas causou sempre a palavra «classe» introduzida no domínio estético, mesmo nos que a defendiam! Que, nos que a rejeitavam, nem falar! Escrevi uma vez um artiguinho, dando largas aliás ao meu interesse ab initio por Pessoa, de modo algum considerando-o «expoente» apenas «dum período literário (...) secundíssimo».11 Pois logo o Eduardo Lourenço me veio puxar as orelhas (sem me citar o nome, é bem verdade, nem isso mereceria...) noutro artigo, inequivocamente intitulado «Explicação pelo inferior ou a crítica sem classe».12 Não haveria mesmo classes? Ou os artistas, além de superá-las, como sempre defendi, conseguiriam, por divina concessão, existir fora delas?
Se houvesse paciência para ler tudo o que, pior ou melhor, escrevi desde o princípio (nem ao meu maior inimigo o aconselho), ver-se-ia que nunca o peso da classe na obra dum artista me fez esquecer que, apesar e através de tudo o que ela, classe, impõe, essa obra revela o que há de mais profundo e permanente em todo o homem. Num artigo sobre Eluard, por ocasião da sua morte, «Une voix qui nous manque»13, contrariei, no próprio terreno, os que defendiam a existência de uma divisão (ou mesmo oposição) no que o poeta fizera antes e depois de pertencer ao Partido Comunista. A propó-. sito escreveu Aragon: «Sem dúvida, esta grandeza [a de Eluard] não nasceu de nada e é um aviso a ter em conta o que nos dá, em Europe, o escritor português Mário Dionísio». Concordava Aragon comigo: a evolução deste poeta «não tem os saltos bruscos, a fácil fixação dos limites, o 'antes' e o 'depois' que alguns quereriam ver nela...»: Aceitando estas minhas palavras, pensava o autor de Les yeux d'Elsa que «o exemplo 'dos críticos de poesia'», a que se estava referindo, «dá razão a Mário Dionísio». Mas sem deixar de acrescentar: «Todavia, sejam quais forem as raízes profundas do Eluard que se tornou comunista, há, a partir de certa altura, na poesia de Eluard uma transfiguração».14 Seguindo-se os passos de ballet habituais no grande escritor. Que, quando isto escreveu (1953), já conhecia bem certos problemas graves que só revelaria doze anos depois num romance, aliás excepcional.15 E, mesmo assim, num romance.
meu galope é em frente
Durante a minha doença — 40 a 43 —, entre as horas de repouso total (se possível, nem pensar; e é coisa que, com treino e muita disciplina, quase se consegue), li e escrevi como nunca até então. O meu conhecimento da vida e de mim próprio apro-fundou-se. Muito. Quer no sanatório (um ambiente novo, mas não tão outro como esperava), quer em Lisboa, onde, gastas as últimas reservas (da tal venda, ver atrás), o tratamento prosseguiu. Um amadurecimento em todos os sentidos e em todos os níveis. Um reflorescimento ou uma confirmação.
Creio ter contribuído alguma coisa para dotar o neo-realismo de uma nova dimensão, outra linguagem, na poesia, na ficção, na teoria (a ordem é arbitrária), como os pesquisadores, se os houver e forem capazes de, talvez confirmem. Que não esqueçam as datas por favor.
O problema principal, para mim, seria nunca escrever sobre camponeses que só se tinham visto da janela do comboio, de acordo com o que o Namora dissera na nota introdutória do seu livro do «Novo Cancioneiro»: «Este é um livro da Terra: da Terra que não foi vista da janela do comboio». Nunca escrever, portanto, sobre camponeses moldados nos de romances de alheias literaturas, mas só sobre gente e meios que o autor directamente conhecesse. E tão de dentro quanto possível. Numa entrevista posterior (a tal dada a O Primeiro de Janeiro), tornaria isto bem claro. Era muito natural que, na relação camponeses/operários, os camponeses fossem os preferidos e bem se entenderá porquê. A censura tinha os olhos muito mais abertos para o que se referisse àqueles. Os problemas que os operários suscitavam tornavam-nos mais difíceis (perigosos) de tratar. A explosão no campo (a velha pobreza do camponês) era um tema sabido e de algum modo consentido, tinha uma longa tradição que ajudava a ocultar os novos propósitos com que o abordavam, enquanto a exploração na cidade, sobretudo nas fábricas, era inevitavelmente explosiva.
Mas não havia só camponeses e operários. Havia a sociedade inteira: tudo dependia do «ponto de vista» (ver outra vez a citada entrevista). Havia, nomeadamente, a pequena-burguesia a que todos pertencíamos, que conhecíamos de dentro e que tinha (teria), quanto a mim, um papel importante na situação política portuguesa. Não inventada, mas observada e pessoalmente vivida, a pequena-burguesia permitiria trazer a nossa ficção para a cidade. E foi o que fiz em quase todo O Dia Cinzento. Por isso terá sido tão mal compreendido quando apareceu. Mas a actividade clandestina lá está, e na cidade. Bastou o pequeno truque de dar nomes estrangeiros às personagens (na l.a edição), simulando, para a censura, tratar-se duma história da Resistência francesa. As pessoas, contudo, as ruas, os recintos descritos no «Nevoeiro na cidade» são de Lisboa. A casa da personagem principal é na Calçada dos Cavaleiros, o café é em frente da estação do Rossio. Aí os via, escrevendo.
Creio que O Dia Cinzento marca ainda outra viragem. E, se mo permitem, importante. Durante a ocupação da França pelas tropas de Hitler, faltaram-nos os livros e os jornais (franceses) que tinham sido até aí o nosso alimento diário. Não tive remédio senão puxar pelo meu pouco inglês, desenvolvê-lo o mais possível e isso me permitiu conhecer directamente as literaturas de língua inglesa (cheguei a traduzir A Pérola do Steinbeck) e descobrir a short story e a short short story, hoje tão pouco em moda, o diabo saberá porquê. A essa descoberta devo, em grande parte, tecnicamente falando, O Dia Cinzento. E quem não tiver dado por isso nunca terá percebido nada do que se passou daí em diante no neo-realismo. Pelo menos, nos que chegavam: Cardoso Pires, por exemplo. Adeus ao descritivo-sentimentalismo de influência brasileira. Outras coisas viriam.
No Não há morte nem princípio, que é o invés da short story, segui sempre a mesma via: escrever só sobre o que directamente se conhece, se viveu ou viu viver. Muito de perto. Não é também, portanto, um romance de camponeses ou operários, mas sobre a pequena-burguesia, sobre certos estratos dela, com problemas, contradições, misérias prateadas, que foram, sem que o soubesse ou pretendesse, como que uma premonição do que viria a acontecer depois do 25 de Abril. Algumas das suas longínquas causas, pelo menos.
O livro é de 69. E mostra bem como o «nouveau roman» me impressionou. Estas coisas não se ocultam. Eu próprio disse várias vezes que, depois de Robbe-Grillet, Butor, Duras, Sarraute não se podia voltar a escrever como antes deles. Mas quem deu pelo livro, excepto os jornalistas de serviço (um obrigado para eles)? Bem podem ter escrito o que sobre esse romance escreveram um José Cardoso Pires, um Urbano Tavares Rodrigues, uma Maria Teresa Horta, por exemplo. O público só vai lá com guisalhada. E essa não a permitia o texto.
Não sei se o romance é (será), na minha pequena obra, uma excepção. Monólogo a duas vozes trouxe-me de novo à história mais ou menos curta, que permite analisar, estudar com tempo, iluminar intensamente, mas num campo restrito, pequenos casos do dia-a-dia, aparentemente insignificantes, que podem contudo ser os grandes casos da nossa vida nacional. Mas aí já não são os americanos ou os franceses que dão o tom (o diapasão?) da escrita. Quero crer que são os portugueses, às vezes de famílias bem distantes da minha. Um mal? Pensar em americano é que não é decerto um bem.
E o mesmo na poesia. Porque, se Poemas e, já menos, As Solicitações e Emboscadas devem muito como clima imagético aos espanhóis, O Riso Dissonante a Eluard e Aragon, sobretudo a Tzara (esqueceram-se de dar por isso, apesar da epígrafe do livro), na Memória dum pintor desconhecido e em Terceira Idade é dum regresso a Camões e a Pessoa que espontaneamente se trata. Como alguns viram, mas não sei se exageradamente.
É necessário lembrar a minha contribuição para a formação e amadurecimento do neo-realismo? São dezenas (?) de artigos, crónicas, palestras. É sobretudo A Paleta e o Mundo, obra porventura mais citada que estudada e (nem todos o terão visto) essencialmente polémica. Ponto decisivo, creio, da chamada «polémica do neo-realismo».
Embora concebida muito antes, A Paleta e o Mundo começou a ser escrita em 52, «quando ao autor pareceu indispensável afirmar publicamente a sua completa discordância de certas teses sobre criação estética, função social da arte, realismo, que então se estavam generalizando com um furor dogmático assaz deturpador de todo o pensamento crítico que aparentemente as inspirava».16 Era o passo para lá de um mais que possível equívoco inicial. O realismo não podia ser e não seria, salvo em casos medíocres (que movimento os não tem?, chamava-lhes eu «escritores de letras gordas»), o que muitas penas burocratizadas e burocratizantes andavam a querer que fosse.
Deslocara-me quase de propósito a Paris para entrevistar pintores célebres de diferentes países, mas com a mesma posição política, pretendendo assim que, neste rincão dos deuses, onde o que vem lá de fora é outra loiça, se visse enfim o erro enorme. Os Gregos e os Troianos. Valeu a pena? A vida me ensinou que muito pouco vale a pena, mesmo se a alma nada tem de pequena. Sobre os Encontros em Paris, principalmente planeados para desautorizar o conceito de realismo expresso na pintura dos Fougeron e nos escritos daqueles que para ele o tinham empurrado (primeiro visado: Aragon, segundo, terceiro ou quarto: os Jean Mi-lhaud), foi possível um crítico meticuloso como o José-Augusto França escrever, de qualquer modo insinuar, que as minhas preferências iam para Fougeron e Taslitsky!17 Pecados meus! Digo que «passo os olhos desolado pela grande tela» [homenagem a André Houllier], evocando saudosamente «as obras pujantes do antigo Fougeron», expostas em 41, sob a ocupação alemã e contra ela, com Braque, Bonnard ou Walch, lembro-as desgostoso em face do que Fougeron passara a fazer, e supõem-me a apreciar e a apontar como exemplo aquilo mesmo que detestava e combatia. Elogio as antigas telas de Fougeron, expostas em 46, nas quais o artista conjugava «o colorido riquíssimo de Matisse e o expressionismo violento de Picasso», esse, sim, um caminho possível, louvo Bretanha e Italianas no mercado, contrapondo-as a Parisienses no mercado, de 47, ponto explosivo do chamado «escândalo Fougeron», e dizem-me ser este Fougeron que escolho. Digo até não ter Fougeron «conseguido dar o valoroso e urgente passo em frente sem destruir as suas mais altas qualidades de pintor»18 e arrumam-me como seu panegirista. Que mal me terei explicado! Não sonhavam os meus críticos de então que triste e duramente reprovava que um político, Lucien Casanova para o caso, fizesse a ronda dos ateliês de pintores comunistas, para decidir se, sim ou não, as suas telas deveriam ser expostas!
Resumindo: preso por ter cão e preso por não ter. Ou seja: quem anda à chuva molha-se, não se fala mais nisso. Por enquanto.
Tenho de confessar que A Paleta foi excelentemente recebida. Além da generosidade das referências e do espontâneo interesse duma grande editorial espanhola19, mereceu em 62, por unanimidade, o Grande Prémio de Ensaio da Sociedade Portuguesa de Escritores.20 Os prémios não se tinham ainda banalizado. E tratava-se então de uma promoção exclusivamente cultural. Como acontecia também com o Prémio Camilo Castelo Branco (obras de ficção), a cujo júri quase sempre pertenci. Digo-o sem desprimor para os tantos prémios de hoje. Não se leia mais do que aqui escrevo. Mas era outra a canção. Indiscutivelmente.
Enchia-se-nos a casa de amigos. Velhos e novos amigos. Com muita parra à mistura, é bem verdade. Não há uvas sem parras. Juntos projectámos e organizámos, na mesma sala onde lavro este documento para a posteridade (que não há), muita coisa que esforçadamente ergueu o punho contra a barbárie fascista. Se esta sala falasse, nunca mais se calava.
As conferências, por exemplo, do Grémio Alentejano, que assim se chamava, em 43, a Casa do Alentejo, foram aqui planeadas. Uma série de palestras ilustradas com recitais de poesia e música (de música, estou dizendo), destinadas a um vasto público e aqui pensadas por amigos vários, entre os quais me ocorrem de momento a Francine Benoit, o Sidónio Muralha, o Alexandre Cabral, de cabelos à cão-d'água, risca ao meio, camisa azul-da-prússia e gravata amarela, jogava râguebi, bem bom. Como era então difícil conseguir uma sala! E alugar um piano?
A primeira conferência, do Bento de Jesus Caraça — «Algumas reflexões sobre Arte»21 —, sala cheia, decorreu sem problemas de maior. Mas, na segunda (e última), já os mastins tinham acordado, tudo mudou de figura. Sala ainda mais cheia. Falava o Lopes Graça sobre música medieval e punha um novo disco para documentar o que dizia, quando, no silêncio momentâneo, se ouviu, lá das últimas filas, uma voz avinhada, toda escorropichante: «Vira o disco e toca o mesmo!»
Era o sinal. Os mercenários atiraram-se ao público como feras esfaimadas. Cães à solta. Confusão. As coisas não foram, no entanto, assim tão fáceis para eles. Nós tínhamos, a toda a volta da sala, um cordão de operários da Carris, trazidos pelo Cabral, me parece, que trabalhava na empresa. De livre vontade ali estavam para o que desse e viesse. E o que veio foi uma sessão de brutal pancadaria. Brutal, não exagero. Os mastins excitavam-se a si mesmos, trepando a cadeiras para berrar: «Quem é que disse morra a Pátria?» E, dessas mesmas cadeiras se servindo como camartelos, berravam: «Viva a Pátria! Viva Salazar!» Os corpos engalfinhavam-se nas salas, rebolavam pelas escadas do Grémio Alentejano abaixo até à rua e, na rua, até à esquadra do Rossio. Apesar da indignação que tudo isto provocava, ainda nos mais calmos, Caraça maravilhava-se: como era possível haver ainda gente pronta a bater-se, e de tal modo, em defesa da cultura! Pedra branca para mim: foi no fim dessa refrega que conheci o Ludgero Pinto Basto, recém-chegado da prisão, em Angra.
E outras iniciativas, publicações, antologias, a criação do PEN Clube português22 — possibilidade de encontros à luz do dia —, palestras, recitais onde houvesse um recinto praticável. Maior ou mais pequeno. Estou vendo, lá para Alcântara, uma garagem da CUF, que era ou me parece hoje que era imensa, cheia de operários erguendo-se de chofre e aplaudindo poesias, entre as quais a minha «Elegia ao companheiro morto», declamada, com a alma toda, pela Maria Barroso. Saia preta, blusa muito branca, uma imagem do povo inconformado. O tempo passa.
«Convosco ou não, meu galope é em frente./ /Pertenço a outro mundo, a outra raça, a outra gente.// E andar! E andar!» Versos meus, de 42. Tendo ainda, como vêem, uma pontinha de influência brasileira.
e quanto ao sal da vida
Falei de amigos. Haverá melhor na vida do que tê-los? Muitos? Uns partem de vez (eram amigos a prazo), outros andaram por longe, regressaram, convertidos à ideia de que não há como beber um copo juntos. Nem que seja de café. Só na desgraça se conhecem bem: sabedoria popular. Fi-los em toda a parte. No sanatório, por exemplo.
No sanatório, onde, num daqueles dias infindáveis, recebi, o mais inesperadamente que é possível, uma carta do Joaquim Namorado a propor-me a inclusão do meu livro Poemas, que ele sabia pronto há muito, na colecção a que ele e outros tinham metido ombros e ia chamar-se «Novo Cancioneiro». Êxito imprevisto. O volume, com uma gravura na capa do Manuel Ribeiro de Pavia, não chegou às livrarias. Vendeu-se rapidamente, de mão em mão, houve quem o passasse à máquina. Foi o segundo volume da colecção, que começara, com Terra, do Fernando Namora, também em 41.
Fui e sou amigo de um bom punhado de gente. E, todavia (os absurdos da vida!), talvez ninguém tenha cortado tanto relações como eu. Chego a perguntar-me, descontente comigo, se chegará para o Guinness...
Foi-me sempre difícil suportar, sem corte radical, a mentira, a prepotência, a traiçãozeca. Adolescência retardada. Como se um corte de relações pudesse excluir da vida essas misérias pegajosas. Arrependido? Em grande parte dos casos, realmente não. Mal que não se tem em frente do nariz sente-se menos, não cheira. Noutros, hesito. No fundo, as pessoas mudam, eu próprio terei mudado alguma coisa. Talvez hoje pudesse conviver sem custo, bem pelo contrário, com gente a que não falo por antigos excessos de rigor. Certas arranhadelas, de que simulei não dar-me conta na altura própria (necessidades de estratégia de outra ordem), comprovam-me que sim.
Porque ofensa, ofensa mesmo, e pública, só me lembro de três casos, biliosa de mais num, desra-zoada de mais nos outros, para que fale aqui neles. Merecem só silêncio. Além de que até isso o tempo vai gastando um pouco.
um novo amor
Mas durante a tal doença — era o que ia a dizer há pouco — uma nova perturbação me bateu à porta sem cerimónias e se instalou de cadeira.
Dos amigos que mais me acompanharam nesses anos difíceis, três havia que falavam muito de arte, particularmente de pintura. Eu ouvia-os, feliz. Feliz, via e revia os álbuns que me traziam para me ajudarem a dar menos pelo tempo, esses meses passando sobre os meses, os anos sobre os anos, radiografias, saídas periódicas para fazer o pneumotórax até quando? Via esses álbuns e sentia alguma coisa reacordar em mim.
Lá para trás. Na minha primeira juventude. Quando almoçava e jantava em casa do Jorge Domingues, meu antigo companheiro de carteira no liceu. O mesmo com que fizera o Prisma, co-dirigira a Gleba, co-dirigira O Diabo. A vida não era fácil lá em casa. A mãe bordava a ouro fardas de diplomata, estolas de padre, galhardetes, tentando eu estabelecer relações possíveis entre recepções de embaixadas, cerimónias litúrgicas, festas desportivas e aquela mulher, toda dobrada sobre o grande bastidor, muita's vezes noite dentro. O pouco que eu lhes dava pela comida era uma ajuda. Mas nunca viram em mim um comensal nem eu neles nenhuns donos de pensão. Ficava por lá com frequência para o serão, demorando o regresso à minha casa sem ninguém, a conversar, a mãe bordando e a falar como uma gralha: a queda do Salazar, outras coisas assim. Mas certa vez alguma coisa me puxou para a varanda da saleta, roendo o meu cachimbo mal queimado (estava na infância da arte) e ali fiquei, com os olhos fixos na massa imensa dos telhados de Lisboa trepando para o Castelo, na rua lá em baixo, muito mal iluminada. Um quinto andar já não era nada mau para o efeito. Remoía o meu Antero: «Silêncio, escuridão e nada mais». Crise de solidão. Daquelas de apertar os gorgomilos. Quando vem o Jorge lá de dentro, suspeitoso, e me põe a mão nc ombro: «Que é isso, pá? Nós cá estamos! Nós cá estamos!» Mas tão longe! Nem ele poderia imaginar de que distância me falava. E, então, sai-me esta, sem desfitar o escuro do horizonte muito acima dos últimos telhados: «Se eu pudesse pintar!»
Pintar? Surpresa dele e minha. Pintar o quê? Via cá dentro, se se pode dizer «ver», uma árvore disforme feita de sombra e de silêncio. Ou talvez nem fosse árvore, mas só ânsia sufocada, um disparate surdo. O Jorge, jovial, sentindo a crise passar:
«Então por que não pintas, pá? Atira-te a isso, pinta!» Mas eu nunca pegara num pincel senão nos de aguarela, para as aguadas, nas aulas de desenho no liceu, com resultados mais ou menos lamentáveis. Nem dera sequer até aí muita atenção à pintura. Não podia ser isso.
A perturbação, porém, ficou. A apurar, como se diria em culinária, sub-repticiamente. Quanto tempo! E regressava agora. Mas sem drama. Só apelo indistinto e uma secreta vontade de arrancar. Meio consciente, não mais.
Um dos tais três amigos desenhava muito bem, era o Álvaro Cunhal, e falava-me, com o espírito insinuante que era o seu, de museus da Europa, tantos museus!, tantos artistas! Käthe Kolwitz, uma paixão que partilhei com ele. E mandámos fazer seis grades a um carpinteiro meu conhecido, três para cada um, para esticar nelas telas, para pintar. Tê-las-á usado? Eu, sim. E mal. Outro, o Huertas Lobo, que faleceu há pouco, era filho de pintor, conhecia a história da arte do princípio para o fim e do fim para o princípio e ofereceu-me a caixa de óleos do pai, prova inestimável de amizade, o que fora do pai era sagrado para ele. O terceiro, que queria ele próprio ser pintor, trouxe-me todas as suas tintas e não descansou enquanto não me viu servir-me delas. E curioso o respeito e a curiosidade (a secreta cupidez) que uma caixa de tintas me inspirava. Até o cheiro, que delícia! E a que ele me trazia, mais para eu ver, estava cheia de bisnagas de cores desconhecidas. Mas eram dele, está claro, não me atrevia a tocar nelas. Chama-va-se António Augusto de Oliveira (assinatura hieroglífica: 2 A A e um O) regressou à sua terra — Cabo Verde — a instâncias do pai, que o não via avançar no curso de Direito, onde em verdade nunca pusera os pés, e pouco mais soube dele senão que não chegou a ser pintor. Mas era o mais teimoso. Vendo uma pequeníssima paisagem que eu ousara fazer com as tintas dele, disse-me, impaciente: «Deixe-se de diletantices, por favor. Pinte mesmo. A sério». Falava-me, encantado, de Gauguin (o que ele quereria ser, Cabo Verde, o interior, um novo Taiti, eu bem o entendia) e de outros autodidactas da aventura criadora. Chegava a ofender-se: «Está à espera de quê?»
Eram os três, enfim, o diabo em pessoa(s).
E falta aqui um outro nome. De alguém que nunca vira. Todo entregue à divulgação, num afã de missionário, esse meu desconhecido, Agostinho da Silva de seu nome, publicava cadernos sobre cadernos (preço: um escudo!) sob o título genérico de Iniciação. Tarefa modesta e gigantesca. Muita e muita gente aprendeu nesses cadernos a amar as maravilhas deste mundo. E foi graças a um deles que soube da existência dum grande e estranhíssimo pintor que logo me interessou, me atraiu, me apaixonou. Sobre o qual muito li, escrevi, falei. Chamava-se Vicente Van Gogh, o homem da orelha cortada. Foi meu «mestre» e meu assunto predilecto durante anos.
Numa página de Diário encontro isto contra possíveis entraves, certamente os houve: «Pintarei, pintarei, queiram ou não, possa eu ou não. É directo, é autêntico, é profundo, é espontâneo. E é como que gostar muito de alguém. Costumo dizer que sou um romancista que não escreve romances. Mais verdade será talvez dizer que sou pintor, chegue ou não ao fim dos quadros. Não é o quadro verdadeiramente que me interessa, mas pintar». Voam as horas, a busca continua. Fico espantado quando ouço: «São horas de jantar!»
Se muito tenho pintado — períodos houve em que não fiz mais nada —, quanto tenho destruído? Quase tudo. O que nem sempre é fácil. Exige certa força de vontade, verdadeiro desprendimento estando preso, mais esforço e paciência do que rasgar o que se escreve. Mas, quando não se chega ao que se quer (alguma vez se chega ao que se quer?), agarrar num pano bem embebido em aguarrás e esfregar, esfregar até raspar, que alívio e que libertação!
E para este género de atitudes que se inventou um dia a palavra «estupidez», bem sei. Mas é mal sem remédio. Aliás, nunca se consegue apagar tudo. Da própria obra destruída, do que nela resiste (um dia nos arrepelaremos por não podermos recuperá-la), uma outra está nascendo logo, inesperada, irresistível, chegue ou não ao fim, já tanto faz.
Naturezas mortas (a minha escola inicial), muitas paisagens com casas de camponesas ou sem elas, cenas de interior (mulheres na cozinha, a lavar a louça, a esfregar o chão), maternidades descalças, corticeiros fazendo «quadros», camponeses e operários reunidos à porta fechada (última versão: Interior, de 47, exposto em 48), serradores, aqueles mesmos que apareceram no meu conto «Uma Tarde de Agosto» de O Dia Cinzento e outros contos. Quanto daria para vê-los agora. Ainda que fosse para destruí-los outra vez.
Claro que pintar me havia de levar ao estudo dos materiais — eu próprio fabricava as minhas tintas e telas quando não tinha dinheiro para comprá-las — e aos tantos problemas da pintura. Que os não há exclusivamente teóricos. Não sei como nunca se gastaram, de tanto as consultar, as páginas de respeitáveis manuais como o excelente O Material do Artista e o seu Uso na Pintura / com notas sobre as técnicas dos velhos mestres, do Max Doerner.
Filosofar sobre pintura sem ter passado por aí, que inconsciência!
E lá vinha, era uma festa, o dr. Avelino Cunhal, esquecido do cabelo todo branco (em vão, com insistência, a mulher lho lembrava), feliz como um menino, passar comigo as tardes de Domingo. Pendurava o solene chapéu no bengaleiro e, depois de muitas cerimónias («Não vale a pena, deixe lá, não vale a pena»), despia o seu casaco, desfazia o laço irrepreensível, chegava a consentir em pôr um avental. Radiante. E punha-se também aplicadamente, a misturar os pigmentos com o óleo («Já estará bem?», «Um pouco mais, mas cuidado, não de mais»), a deitar-lhes a gota de água para fazer a emulsão, a meter o produto em bisnagões de estanho que eu arranjava não sei onde. Tínhamos tinta para uns tempos.
E logo os problemas da pintura se entrosaram com os da poesia, os da ficção, os da própria teoria estética. Os da política, enfim.
O Marx é que teria razão: «Numa sociedade comunista não haverá pintores, mas homens que, entre outras coisas, pintam». Esperanças cá para o rapaz, que mais amador que ele não haveria. Onde estava, porém, a sociedade comunista? Nem eu compreendia muito bem aquele «entre outras coisas». A pintura, como tudo, exigia uma especialização cada vez maior e, a bem dizer, a tempo inteiro. Esse o meu desespero.
Não eram sinais de paz. Lembro-me bem do sorriso dum amigo (amigo mesmo) que, não levando muito a sério as minhas novas andanças, me ouviu um dia esta estranha asserção: «Pintar é mais operário que escrever». A que porta batia! «Por causa do fato-macaco?» Cáustico, o cavalheiro. «Por que não escreves então de fato-macaco?» Eu, silêncio, todo ofendido por dentro. Há coisas em que é inútil insistir. Um círculo de incomunicabilidade nos separa mesmo das pessoas mais ou menos íntimas. Tentar quebrá-lo não parece aconselhável. Todos temos coisas desconfortáveis lá no fundo. Lá no fundo convém que continuem. A confidência tem limites. E melhor não mexer muito.
A partir dessa altura, seria um homem dividido, apesar duma unidade subjacente, inalterada, inalterável, que só eu podia ver. Um homem incapaz de optar entre tantas solicitações (e emboscadas...) iguais na exigência. Mas será bom lembrar que já me desmenti em público: «Mais duma vez respondi a entrevistadores que resolvo a minha grande dificuldade dispersiva fazendo tudo ao mesmo tempo, um pouco de cada coisa. E disse-o com convicção, vá-se lá saber porquê. Vejo agora que menti. Na verdade, não faço tudo sempre, era impossível. Se escrevo poesia, por exemplo, sem que escolha quando, é só poesia que 'escrevivo'. Como havia de ser de outra maneira? Idem com a ficção. Idem com a pintura.
«E, entretanto, absorção. Completa. Em fase de 'escreviver' (ou de pintar), confesso que nada existe para mim além do que me ocupa. Finjo que leio. Finjo que ouço».23 Por isso julgo sempre, enquanto me entrego a um tipo de trabalho, que todos os outros acabaram para mim. Mas já se viu que assim não é. Tenhamos esperança em embriões que esperam. Não sei como nem onde.
Como eu gostaria de saber explicar (-me) as ocultas razões que, a partir de 63, só me deixam (até quando?) fazer pintura abstracta? Uma nota, escrita em Fevereiro de 83 (em todo o caso, muito tarde) diz mais ou menos como as coisas se passam: «Parto sempre para a tela com uma grande convicção. Melhor seria dizer esperança. E a sede — a sede mesmo — de pintar que me leva a abandonar tudo e a agarrar nos pincéis. Bato com eles na tela como quem bate em alguém, que é o mundo, o destino, a grande barreira que me impede de. Não digo às cegas porque um olho crítico de mim mesmo está constantemente vigilante e troça dos grandes ímpetos 'inspirados'. De qualquer modo, começo com violência e quase com certeza, caçador que sente a caça na ponta da espingarda. Rápido, percorro a tela de canto a canto, insisto mais no lado esquerdo ou no direito, em cima, em baixo, raramente no centro. Quem insiste sempre alcança. É um corpo-a-corpo desaustinado, cantante, delicioso.
«Mas, pouco a pouco, a humildade vem. A pressa desaparece. Ponho-me a olhar desconfiado, embora sem parar (seria o mais difícil de tudo nesse momento, para não dizer impossível), procuro, tento descobrir, porque, na grande selva que entretanto se foi criando à minha frente, deve haver um caminho, tem de haver um caminho e, pobre de mim, não o encontro. É possível que esteja já a encobri-lo com pinceladas firmes, certeiras (que me agradam), mas quem sabe se fora do lugar e da altura em que deveria usá-las.
«Infelizmente, é já tarde de mais para voltar atrás, para desistir. Continuo. Mas agora só a trote, com algum peso na consciência (sem saber de quê), a mão ainda ágil. Vão surgindo abertas na paisagem, confusões prometedoras, acordes e dissonâncias imprevistas, promessas. Que apanho no ar com algum medo de perdê-las. Que exploro de mais. Que estrago».
Há sempre quem me pergunte, porque gosta do que faço ou talvez nem seja isso, são hábitos, convenções estabelecidas, delicadezas sociais: «Para quando, enfim, essa exposição?» Faço por sorrir e mordo-me por dentro: mais um que não entende nada.
uma ponta do véu
Embora circunscrita ao sector cultural, assim a quis — propor, coordenar, impulsionar, ligar a zona clandestina à zona legal e vice-versa —, a minha actividade política não deixava de crescer. Não era raro levar-me o tempo todo. Porque havia as reuniões (muitas e intermináveis), a sua preparação, a distribuição da imprensa, outras tarefas. Sempre recusei ser promovido no mundo subterrâneo, como, depois do 25 de Abril, recusaria por duas vezes ser ministro. Eu não era, nunca fora nem seria um político. Era apenas um artista (bom ou mau é outro assunto) que circunstâncias históricas precisas obrigavam a actuar politicamente. Queria-me soldado só. Mas que difícil fazer entender isto aos que nasceram para subir, mesmo que fiquem pelo sonho, de soldado a general!
Erguia-me no meio da noite e olhava, angustiado, as mesas de trabalho: a secretária, o estirador.
Não tinha tempo. O ensino, a poesia, a ficção, o ensaio, a malfadada crítica, a pintura. Tudo isto chegaria bem para encher uma vida. Ou não? Sobretudo com a demora e a minúcia que me habituara a pôr em tudo e fizera de mim um animal pouco rentável. Não tinha tempo. Ninguém entenderia isto? Ninguém entenderia que o duelo não era entre o prazer e o dever? Que era entre a vida e a morte?
Pertenci ao Partido (escusado dizer qual) até Maio de 1952. E dele resolvi sair por não dispor do tempo indispensável para o que mais na vida me interessava (a corda quebrara) e por outras razões, naturalmente. De ordem teórica, de ordem prática. Caíra, enfim, no burguesíssimo orgulho de querer ver mais e melhor do que a direcção duma organização que pensava «por milhões de cérebros». Toma lá. Com toda a seriedade. E eu, já muito corroído pelo micróbio decadente: pensar por? nem sequer a rogo de?
Mas não era sequer o que actualmente se chama «um dissidente». Anti-stalinista, sim, e desde sempre, muito embora sem grande consciência disso. Ainda nem existia a palavra «stalinismo». Vinham longe o XX Congresso, as grandes revelações (confirmações), as primeiras tentativas de «degelo». Relendo documentos dessa altura, vejo, com pasmo, que respondia a certas objecções feitas em nome do pensamento de Stáline com frases do mesmíssimo Stáline... Estávamos todos muito verdes, eu também. O que só será compreendido por quem puder reconstituir a época com a minúcia e a precisão indispensáveis.
Tudo se complicava muito porque nós (mas quais de nós?, quantos de nós?) sentíamos, como um espinho na carne, o dever de lutar pela felicidade dos outros. Não o fazer era uma espécie de pecado. Não sabíamos viver com esse peso, essa hipótese sequer, na consciência. Mas lutar seria obedecer de olhos fechados a uma orientação que (e assim me parecia mais e mais) não levaria a lado algum, à transformação dos homens certamente não? E o papel do intelectual (como o de qualquer outro militante) poderia limitar-se a subir e descer escadas com o único objectivo de subir e descer escadas? Não seria sua estrita obrigação (não só dele, mas sobretudo dele) esclarecer, esclarecer, esclarecer os que só o não são, à partida, por defeituosa, criminosa organização da sociedade? Uns, como eu, pensavam (o Cochofel, o Carlos de Oliveira, o Lopes Graça, não só estes) que a militância do artista deveria ser sobretudo (sobretudo, não só) no campo cultural. E que ela de modo nenhum deveria impedir o artista de dedicar-se ao conhecimento profundo da linguagem específica da arte e seus problemas. Que não havia arte revolucionária sem começar por ser arte. Que a desejada acção da arte junto do público, além de arte ser, exigia um mínimo de preparação da parte deste, a incluir nas tarefas políticas dos intelectuais. Que — princípio e fim de tudo — considerar a chamada «forma» e o chamado «conteúdo» elementos (metafisicamente) separáveis revelava, não um conceito marxista, mas um «mecanicismo pré-dialéctico», como já lhe chamara, sem que qualquer de nós o pudesse então saber, o insuspeito Mikail Bakhtine. Outros (muito mais poderosos na organização, deliberando o que pensar, desde o vértice da pirâmide a toda a base) defendiam, e com que intransigência!, precisamente o contrário.
Coisas graves me pareciam que a crítica de baixo para cima (a inversa nunca esteve em causa), embora muito apregoada, nunca fosse possível exercê-la, que a repetição de palavras de ordem até ao atordoamento, mesmo no interior, substituísse uma cultura cientificamente indagadora, que qualquer discordância de fundo obtivesse invariavelmente como resposta: «terás razão, mas não é este o momento de». Quando a cultura não é nunca para amanhã, é sempre para já. O futuro o diria, o presente o está dizendo.
Por que não se esquecem certas coisas? Ao passar a simples «simpatizante» (era tudo afinal o que então queria e, a custo, consegui), um «amigo» — entre aspas a partir desse preciso instante — disse-me de olhinhos fixos e brilhantes: «Nunca mais farás nada». Mau agoiro para quem queria fazer tanto.
Uma ameaça? Levei tempo a entender que sim.
Muitos meses depois, já em 53, liberto pois de qualquer disciplina partidária, fiz uma série de oito conferências na Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências de Lisboa, por iniciativa da sua secção cultural24 .
Público crescente. Pois sou informado de que, enquanto falava, naquele silêncio ávido e colaborante que é o prémio maior para qualquer orador, se bichanava na sala a deitar por fora: «Um tipo bestial. E pena como se portou quando esteve preso. Meteu muita gente dentro». Era infantil. Quem me conhecia, e muitos me conheciam, sabia perfeitamente que eu nunca estivera preso.
A verdade é que nenhuma organização tem culpa dos seus doentes nem até dos seus períodos de crise sobretudo com dirigentes importantes na cadeia. O que não obsta a que a bola de neve comece a tentar formar-se.
Não me passou despercebido, já três anos andados e o tosco processo concluído, o tipo de objecções que o Mário Sacramento e o meu velho amigo Óscar Lopes acharam por bem fazer — só eles e só então — a algumas teses expostas n' A Paleta e o Mundo, não se esquecendo ambos de informar os respectivos públicos de que o autor mudara de doutrina e que, embora muito isto e mais aquilo, abandonara «o caminho comum».25 Quanto a «caminho comum», na acepção que lhe davam, era já mais que evidente. Mas lá quanto a doutrina...
Havia muita coisa por detrás, que talvez nem eles conhecessem. Pormenores de importância, ouso pensar. E, porque a história das ideias, dos países, dos partidos, finalmente das pessoas, também de pormenores se faz, espero ainda contar os que comigo se prendem (se prenderam) quando tiver espaço para tanto.26 Não tem pressa. E talvez — é a minha vez de o pensar — não seja o melhor momento para. Resta saber se alguma vez o será.
O tempo foi ensinando muita coisa a quase toda a gente. Mesmo a alguns que não sabem que eu sei que. É melhor mudar de assunto. De qualquer modo, as propostas, anteriores e posteriores ao 25 de Abril, para «rever o meu caso», nunca me dispus, naturalmente, a aceitá-las. Sem alegria, desejo que se saiba. Sem ponta de vaidade, quer queiram crer, quer não. Se os tais olhinhos fixos e brilhantes não são coisa que se esqueça (nunca mais), outro apelo permanece, irrecusável, desde sempre, muito provavelmente para sempre. Ronca mugindo roucamente no espesso nevoeiro. Sem se saber onde o farol estará. Se existirá.
Via tudo agora mais de longe e, se me dão licença, ainda mais de cima. Ou seja — e assim voltamos ao ponto de partida... —, o tal orgulho, burguês ou não burguês (pensar-se-á ainda assim?) que me faz ter o inferno garantido.
Disse um dia a um jornal que os erros dos que estão mais próximos dos meus ideais, mesmo só em teoria,27 nunca me farão cair nos braços dos inimigos desses mesmos ideais. Disse-o então, di-go-o agora. Amanhã a mesma coisa. Espero.
proibido estacionar
E a glória? Essa miragem que tira o sono a tanta gente?
Manda-me a prudência calar o que penso da glória e, muito principalmente, do que tantos fazem para atingi-la. Lá viria o «estão verdes». Fatalmente. E sei lá se com razão. Nunca a gente se conhece bem até ao fundo.
Direi só, serrazinento, que a acho dama enganadora e tanto mais na época das grandes montagens publicitárias, com poderosas ligações multinacionais, tudo o que vem é ganho, etc. e tal. Uma famosa escritora (não só) policial pensa acertadamente que «talvez para um escritor muita da sua sorte venha do facto de ter a publicidade certa no momento certo». Publicidade. A explicação de (quase) tudo. Num livrinho que me interessou bastante, sobre a fabricação (será o termo exacto) de contos e romances, não forçosamente policiais, a mesma autora emprega com sintomática frequência o verbo ou a ideia de «vender» onde até agora se tem dito, por exemplo, «agradar»: «para conseguir vender...», «encontrar um mercado para isto», «uma história que se venderá», «um livro é tanto mais facilmente vendido para televisão e cinema, se...», se «se pretende um determinado mercado...» 28
Pobre do livro transformado em vistoso objecto de consumo. Pobres de todos nós. «Já leste?», «Não, mas tenho lá para ler. Parece que é muito bom». E as edições saindo, tanto melhor assim, e as traduções também (certos agentes são duma criatividade de deixar a boca aberta), e Portugal transformando-se, que me dizem a isto?, num viveiro de criadores com manifesta surpresa da Europa e arredores. Um quinto império no papo. Apesar da língua aos tropeções, sob vários aspectos, não se fala agora nisso, quem cá ficar verá. Se tiver olhos para ver e se os quiser usar.29
Talvez não muito a propósito (mas eu quero crer que sim), dou por mim a pensar no jantar em que me foi entregue, há um quarto de século (voa o tempo e nós com ele), o Grande Prémio de Ensaio. Havia tanta gente — apesar do silêncio da TV, da rádio, da maior parte dos jornais — que muita se viu obrigada a retirar-se por não caber na sala. A corrida aos Correios, ao telegrama. E confronto-o com a sessão de entrega do Prémio de Poesia do Centro Português da Associação Internacional dos Críticos Literários, em 82,30 já, portanto, nestes nossos tempos áureos. Quinze pessoas na sala, contei-as pelos dedos. O que, dividido com o 0'Neill (o Prémio foi-nos atribuído ex-aequo), dava sete pessoas e meia para ele e sete e meia para mim. Nada mau, atendendo à falta de bebidas e outras falhas de encenação.
Haverá algum mistério em tudo isto, quero crer. Qualquer tecnocrata mo saberia explicar rapidamente, com ou sem computador. Mas, obrigado, é melhor não.
Afinal o pior da tal sessão das quinze pessoas contadas pelos meus dedos foi o notável discurso da Maria da Glória Padrão sobre a poesia do O'Neill e o excelente, vivíssimo improviso da Maria Alzira Seixo sobre a minha terem sido ouvidos por tão reduzido público, por melhor que este fosse. As coisas são como são. Ou como as fazem. Ponto final, parágrafo.
E esta minha tendência agora para o conto, a história curta ou pouco longa, para o quadro de pequenas dimensões, para o que exige um trabalho enorme mas que não se vê, minúcia, depuração, despojamento, gradações e omissões voluntárias, dificilmente conseguidas, num país ou numa época em que se franze o nariz à música de câmara ou ao quadro de cavalete e só se aprecia a avalanche, a corrida de fundo, sem tempo para atender a pormenores de tratamento de matéria, mesmo que não se leia o calhamaço até ao fim?31 Na minúcia do tecer é que está o prazer. Ou estava. Agora entendo muito bem (e agradeço a desoras) os reparos de dois críticos sobre pinturas minhas há trinta e quatro anos. Surpreendia-se um com certa pobreza de matéria de dado quadro. Tinha razão. Lamentava o outro (mas com esperança) que eu não houvesse descoberto ainda a arte e o prazer de passar os pincéis, em transparência, sobre outras pinceladas. Tinha mais razão ainda.
Ninguém imaginará (senão os do mesmo ofício e com tineta igual) o trabalho que sempre me deu o mais pequeno escrito. Chega a ser doentio, convenho. Creio que a minha filha mo critica sem que me diga nada. E não só ela. Impossível libertar-me das exigências do ritmo da frase, integrado num ritmo mais vasto, o do parágrafo (real ou dissimulado) e noutro, mais vasto ainda, o da página inteira. O ritmo, não só (não bem) sequência ordenada de movimentos lentos e rápidos por uma alternância do agudo e do grave, como queria Platão, mas dinâmica interna da frase de tal modo fixada que a pronúncia facilmente flua, sem choques nem atropelos, conservando contudo alternâncias e surpresas que dão a vida ao discurso e o personalizam. As vezes tudo se resolve com a deslocação duma palavra, dum sintagma, é um jogo vulgar, qualquer principiante se desembaraça dele. Mas, outras, fia mais fino. Tem de se ir à pesca de palavras com um número de sílabas diferente, a mesma ou outra acentuação, pois até isso conta. Sinónimos, sim, recurso pobre. Mais vale desistir. Mas desistir do que tanto põe à prova a nossa capacidade de?
Nunca nada está bem. Nunca é ainda aquilo. Acabo por entregar os originais contrariado, desiludido comigo. O detestável perfeccionismo, enfim. Vítor Hugo queria ser Chateaubriand ou nada. Mas tinha dezassete anos...
E «sempre» não é bem verdade. No princípio, a mão corria sem que eu pensasse nela, saía aquele caudal de «críticas», artigos que agradavam muito a uns e nada a outros, claro. Ir na crista da onda. Que inveja desses anos (só certezas!) e que constrangimento, quando, «à procura do tempo perdido», preciso de reler um ou outro desses lindos produtos do feliz açodamento juvenil! Sei bem (agora) que não se deve ter a pretensão de dizer tudo. Não se pode dizer tudo. Ninguém sabe dizer tudo. Mas como pôr de lado a teimosa ambição de dizer, ao menos, o essencial? E rio-me de mim mesmo (não se perde tão depressa a lucidez) por causa deste «ao menos»...
Grande frequentador de cafés (quando os havia, e neles muito escrevi, há épocas, gostos, preferências que mudam), nunca frequentei, contudo, os centros oficiosos de convívio de artistas e escritores, incluindo jornalistas. Como a célebre «Brasileira» do Chiado, paraíso de muitos, onde também os pides iam tomar a sua bica nos intervalos dos interrogatórios ali mesmo a dois passos, na António Maria Cardoso. Chegava a haver, parece, quem entrasse, risonho e distraído, estendesse a mão pelas mesas à volta, «boa tarde!, boa tarde!» e nem via que era o Seixas. Muito menos frequentei, já homem feito, meios de boémia artística ou faz de conta que sim. E mau. Isto cria uma espécie de cortina de gelo à nossa volta, um quase mas quem é este?, de onde vem?, com resultados pouco desejáveis nas notícias, nos artigos, cá estamos nós, nas vendas.
A minha longa doença nos começos da vida, a actividade clandestina, sempre embora na legalidade, o muito trabalho sempre, tudo isso deixa marca e deve ser responsável de um estilo de vida que há--de parecer meio monástico e muito pouco agradará aos nadadores de aquário. Mas ouriço, eu?
Depois do 25 de Abril, com a euforia geral e a minha em particular (como era bom falar com toda a gente em qualquer parte!, ver que afinai isso é possível!), voltei a dar-me mais, a dar-me todo: artigos, entrevistas, discursos, reuniões, frenéticos trabalhos de organização e mobilização na escola, no Ministério, até na RTP, essa cabeça perigosa que também pensa por «milhões de cérebros». Pertenci até, embora por pouco tempo, na excelente companhia dos profs. Torre de Assunção e Ário de Azevedo, à Comissão de Saneamento do Ministério da Educação. Não há razão para ocultá-lo. Apesar do que diz uma linguinha que anda por aí escorrendo baba e devia ser cortada. Pedira-me um velho amigo, então ministro, o Vitorino Magalhães Godinho, que aceitasse a espinhosa e trabalhosa missão. E a verdade é que alguém teria de dispor--se a aceitar certas tarefas, por mais ingratas e difíceis. Ou a Revolução se defendia, ou nunca chegaria a sê-lo. Como não chegou. Mas pouco ali mais fiz do que arrumar a casa, que encontrei em perigoso desalinho. Pelo menos, nunca mais ninguém levou processos para casa nem lhe deu tratamento ao sabor de preferências pessoais ou partidárias. Mal verifiquei, porém, ser indispensável alterar uma lei que castigava os pequenos (reles informadores, outros que tais) e protegia os grandes responsáveis e que o Conselho de Ministros nem queria ouvir falar em tal, tanto eu como o companheiro exemplar que era o prof. Torre de Assunção, apresentámos o nosso pedido de demissão ao Ministro, que entretanto mudara.
Luta tenaz, tão sincera como ingénua: os abutres estavam lá, na sombra ainda. Uma luta, como sempre, assente em dois pontos principais: cultura e unidade. Não me chegara a lição da vida inteira. Lutava contra moinhos, contra o vento.
Terei de dizer uma vez mais, hei-de dizê-lo sempre, que nenhum partido de Esquerda percebeu (ou terá querido perceber), para além dos discursos, dos comícios, das entrevistas à Imprensa, não me interessa isso agora, que uma nação secularmente mergulhada na mais completa ignorância das suas próprias carências (que não são só pão e casa, e mesmo para ter o pão, para ter a casa), exigia, antes de tudo, sabem o quê?, ensino. Ensino, no sentido mais vasto e profundo da palavra. Tão vasto e tão profundo que a tarefa imensa de pôr milhões a saber ler e escrever (mas que é ler?, mas que é escrever?) mais não seria que um ponto de partida. Em todas as idades. Em todos os recantos desta terra de milagres, crenças e crendices, de faz como vires fazer. Ensino para que se aprenda a ver com os próprios olhos, a intervir com as próprias mãos, a entender também que nunca é por acaso que se volta a falar, com redobrada insistência, nas suas glórias passadas — no largo Oceano ou nos palcos de revista —, como manda a receita dos bons tempos. Que os funâmbulos estão aí. À espera. As ordens. Não é outra a sua profissão.
Se eu ainda fumasse. Carregava um cachimbo como os sabia carregar depois de tantos anos de experiência, com pressões diferentes consoante a fundura a que o tabaco vai ficando. Um desses de fornilho alto, boca estreita, boquilha bem comprida, o fumo chega assim mais frio, mais leve, desperta o pensamento, dá-lhe asas. Estou olhando à minha volta e em mim mesmo. Que é isto, rapazinho? Desconforto? Apreensão?
Caminhamos para onde? Para a destruição total, aqui e no Planeta inteiro? Ou, computadorizadamente, para um mundo inteiramente novo (novas linguagens, novos sentimentos) que não posso, e isso me desespera, prever sequer como será?
Desprezível, entretanto, me parece o sorriso feliz dos que, no meio da tempestade e das matas em chamas, fingem não dar por elas. Há os que ignoram (a fome, a poluição, a droga, a sida, o trabalho de menores à vista de toda a gente, a subversão da democracia democraticamente feita por dentro em nome dela, a agressividade, a ameaça nuclear), há os que simulam ignorar. Em qualquer dos casos: desprezível. Nisto insisto. É preciso insistir. Um antiquíssimo espelho põe-se-me na frente: É preciso? Essa é boa! É preciso? Ou serás mesmo incurável?
E, no entanto, tímidas esperanças se aproximam (sou incurável, sim, não deixarei de sê-lo!): certos aspectos do poder local, um alegre formigar de actividades culturais de jovens que se alarga, de dentro, por esse país fora e que era impossível antes, não esquecer: e que era impossível antes.
Tem de existir um grande desencontro entre o que escrevo e o que escrevem muitos dos meus contemporâneos. Gosto pouco, em geral, do que eles escrevem. Eles não devem gostar nada do que escrevo. Estamos quites, assim. Boa viagem. Sem ressentimentos.
Considero cada vez mais indispensável um certo distanciamento dos factos e das pessoas que serão, com grandes alterações, as minhas personagens: mesmo «eu», quero-me «ele». Mas só me interessa de verdade o que está perto. O que eu próprio vejo ou vi e, a partir disso, imagino. Quase me diverte pensar que haverá quem diga: um homem de vistas curtas. Se é falso, tanto faz. Se é verdade, que remédio?
A História mais ou menos histórica (andam a pô-la em moda), a lenda mais ou menos fantasista, os realismos variadamente adjectivados buscando todas as saídas para não serem realismo, nada tenho a ver com eles. Como autor. Como leitor, lá muito de onde em onde, por causa dos casos excepcionais, já se sabe que os há. Aliás, quando leio, leio muita coisa ao mesmo tempo por esta razão ou por aquela, por acaso. Nem sempre até ao fim. Já não há daqueles livros em que o leitor se enfronhava até final, esquecendo os outros todos. Para mim. É curial acrescentar. E, além de tudo isso, não me considero tanto, fiquem lá sabendo, que me contente com escrever só para mim mesmo (falo de estilo, de grau de ambiguidade) ou para mais meia dúzia como eu. Nunca serei capaz de trabalhar «como o pássaro canta». Trata-se de outra coisa. Bem mais ambiciosa. De puxar o leitor até ao fim sem o deixar parar e — ambição maior ainda, se é possível — sem que ele me veja. Ideal de escrita pois: agir, sendo invisível.
E agora, para acabar (é um truque de conferente, ainda falta um pouco mais), uma confissão despudorada, como todas as confissões o devem ser: gosto bastante de algumas coisas que escrevi. Quem esperava uma destas? Embora o que escrevi lá para trás, sobretudo de índole teórica afirmativa, me cause um mal-estar indefinível, uma vontade, que não é bem de rasgar ou renegar, de vomitar, mas de tirar tudo de onde está para voltar a pô-lo lá de outra maneira. E, quanto ao resto — o que me agrada — desgraçadamente o sinto como um começo só. Tudo está para vir. Nada virá. Eu sei.
Ouço o grande silêncio. Vejo-o. Toco-lhe quase. Estou sentado, no meio da cozinha lajeada, olhando lá para fora pela janela alta e estreita. A manifestação (com tiros!) em S. Pedro de Alcântara, éramos todos estudantes. Encontros nocturnos na cerca da Faculdade de Ciências, falava-se em voz baixa, muito baixa, com o portão fechado, quem é que tinha a chave? Um grito alegre na praia da Ericeira, alguém correndo, um abraço tão forte que nos deita ao chão, é o Ramos da Costa muito novo, que eu julgava ainda preso, «saí ontem!». E o Zé Gomes, o Carlos, o Cochofel, ainda antes da tertúlia do «Bocage». E as massas transbordantes do dia da Vitória: bandeirinhas dos aliados nas ruas, nas varandas, nas lapelas, excepto a da URSS, é claro, e por isso se gritava: «Todas! Todas! Todas!» E novamente a marcha cautelosa sob as águas. Sempre outra vez a marcha cautelosa sob as águas. Sacões de esperança: o Norton, o «Santa Maria» navegando envolto em lenda, apelando em vão ao mundo inteiro, o Humberto Delgado antes de lhe arrancarem as estrelas. Anos e anos de crime, digamos o que dissermos, consentido. Até ao tal amanhecer: Aqui, posto de comando das Forças Armadas. Escancarado o portão de Caxias. O regresso dos exilados perante mares de gente gritante e confiante, até parecia um povo. O primeiro 1.° de Maio em liberdade, nas ruas, nas janelas, nos andaimes dos prédios em construção. Seria mesmo um povo?
E outros momentos. Soltos. Deslumbrantes na opaca escuridão do que não volta mais. Cada um terá os seus, a sua história privada, a sua respiração. A última reunião da Comissão de Escritores do MUD, a que tinha pertencido toda a gente (faltavam às vezes cadeiras) e a que, por fim, já só compareciam, inutilmente renitentes, três pessoas: a Manuela Porto, o Flausino Torres, eu. Que coordenava o sector desde a própria ideia de o formar. Como o dos artistas (arquitectos, pintores, escultores, desenhadores, fotógrafos, publicitários) que, a partir de 46, fizeram juntos as suas Exposições num clima de entusiasmo e unidade como nunca houvera no país nem sei se, exactamente assim, terá voltado a haver.32
Momentos soltos lucilando na distância. O José Cardoso Pires a bater-me à porta com o seu primeiro original. O Piteira a paginar comigo, em minha casa, à noite, a Gazeta musical e de todas as artes.
A Manuela Porto foi quem primeiro declamou a «Ode Marítima», como nunca mais ninguém faria. E, antes (ou depois?), a nossa poesia que mal ainda despontava, no velho Salão de O Século, com uma palestra introdutória do Armando Bacelar. Vejo-a a beijar, num pé, a minha filha então de meses: «Posso? E um milagre!» E, a seguir, na redacção da Eva, que ela chefiava e onde a vi pela última vez. Estava assente que eu passasse por lá para lhe dar a senha de contacto com o MUNAF, organização ilegal a que resolvera aderir. Era um prodígio de vontade e de coragem aquela mulher tão frágil, delicada, toda ela poesia. Mas tinha no gabinete, inesperadamente, alguém que não me devia ver, a directora da revista. Vem lá de dentro, à pressa, sorridente. Traz nas mãos as Cartas a um jovem poeta. Deixa a porta entreaberta, só o bastante para que a ouçam bem. «Desculpe não poder hoje recebê-lo. Está aqui o livro. Gostei muito». Mímica apressada a explicar porquê o livro e aquela conversa. Dois dias depois suicidava-se.
E vejo o Flausino também, muito mais tarde, com o seu arcaboiço de camponês, grossa samarra de gola levantada, já a noite caíra, à porta da sua casa de Tondela, em pleno campo, com os braços estendidos e os olhos molhados: «Tu é que tinhas razão». Enquanto eu, durante o abraço demorado e apertado, retomava um convívio interrompido durante anos: «E era preciso ires tão longe?»
Regressara de Praga, depois da invasão. Passara por lá as passas do Algarve nas mãos de uma conhecida dirigente, dessas de «antes quebrar que torcer», que se deslocava em luxuosos automóveis de Estado, vivia em bons hotéis por lá e anda agora por aí, nos períodos eleitorais, a fazer a propaganda de tudo o que seja de Direita.
Exactamente a mesma. Quando, em 42, fiz a minha conferência na Universidade Popular sobre arte moderna, essa expressão acabada da «burguesia decadente», foi ela que comentou: «Que grande desilusão!» Mas não se referia à qualidade da conferência. A minha grande falha ideológica é que a deixara desolada...
Varrer o lixo. Sem descanso. Conservar o que nos foge por entre os dedos, como fumo.
O quê? Projectos? Mais projectos? Coço a cabeça, meio envergonhado. Um homem com esta idade! Terei tempo sequer para metade deles?
Vale-me então um espírito maligno, género anãozinho da floresta (outra vez a floresta...) que me pousa no ombro enquanto escrevo ou pinto e que me diz, gozão: «Inquietas-te porquê? Que falta é que tudo isso faz?» E, com esta, arruma-me de vez: «Estás convencido de teres estado sempre certo?»
A defesa, abro o meu irregularíssimo Diário num dia de 63, aí calhou, e leio-o como se a data fosse a de hoje: «Não queiras que cada página seja um monumento. Não queiras tudo. E o melhor caminho para não encontrares nada. Não te sintas esmagado pelos grandes nem condoído com a falência dos que detestas ou desprezas ou apenas lamentas. Escreve. Esquece tudo, tapa os ouvidos, mete-te bem na tua experiência, só na tua experiência. Grande ou pequena, é o que tens. Não desanimes, não desistas, não te perturbes com a indiferença dos outros, não te entusiasmes com os aplausos dos outros. Escreve! Escreve!».
Mário Dionísio
Notas:
1 Ver Mário Dionísio, «Da pequena à grande História». Jornal da Educação, N.°84. Lisboa, Agosto de 1985. voltar ao texto
2 As «Fichas» começaram a publicar-se em 21.2.42 («Ficha 1») e terminaram em 31.7.43, com a «Ficha 13-A», que prosseguia a polémica com João Pedro de Andrade, a qual se conclui na «Ficha 14», editada em volume por a Direcção da Seara se ter recusado a publicá-la. Assuntos das «Fichas»: Pereira Gomes (primeiro artigo sobre Esteiros), Jorge Amado, Alves Redol, Sidónio Muralha, José Gomes Ferreira (primeiro artigo sobre o poeta), importância da técnica na criação estética, defesa da arte moderna, etc. voltar ao texto
3 Jean Guéhenno, Sur le chemin des hommes. Grasset Paris, 1959, p.27. voltar ao texto
4 Na minha última lição, «Língua, Linguística e Técnicas de Expressão», pronunciada em 5.3.86, na Faculdade de Letras de Lisboa (Anfiteatro I, repleto de gente generosa), depois das palavras de Maria de Lourdes Belchior, que ali falava como que «por procuração», segundo disse, devido à morte ainda recente de Jacinto do Prado Coelho. Deste modo aludia ao facto de ter sido aquele Professor que, com Luís Lindley Cintra, mais se empenhou no meu ingresso na Faculdade, o que só viria a acontecer, naturalmente, depois do 25 de Abril. Mas eu ouvia-a, lembrando que fora ela, Maria de Lourdes Belchior, a primeira pessoa a falar em público, e em recinto oficial, o Liceu de Pedro Nunes, sobre a poesia neo-realista e portanto sobre a minha. Ver Palestra, revista de pedagogia e cultura, que publicou a sua conferência no n.° 14. Lisboa, 1962, p.75. voltar ao texto
5 «Explicar» in «Factos e Documentos». Seara Nova, N.° 604. Lisboa, 11 de Março de 193
6 Este texto foi publicado com o título «Uma carta» e uma Nota da Redacção extremamente cativante. O Tempo e o Modo, N.°37. Lisboa, Junho de 1963. voltar ao texto
7 Perdi o «recorte», mas foi publicada no Liberdade e é sem dúvida de 1934 voltar ao texto
8 Vejam-se, por exemplo, os meus poemas «Caminho» e «Balada dos Amigos Separados», respectivamente dos livros Poemas e As Solicitações e Emboscadas, coligidos em Poesia Incompleta (2.ª ed.). Vol 1 de «Obras de Mário Dionísio». Publicações Europa-América. Mem Martins, s/d pp. 67 e 147. voltar ao texto
9 Alexandre Pinheiro Torres, «No 70.° aniversário de Mário Dionísio», Colóquio/Leiras, N.°92. Lisboa, Julho de 86, p.7. voltar ao texto
10 Além do que pode ler-se nas linhas e entrelinhas de quase tudo o que escrevi sobre o assunto, deverei lembrar especialmente a entrevista «Que é o neo-realismo?» (O Primeiro de Janeiro. Porto, 3.1.45), o artigo «O Sonho e as Mãos» {Vértice, N.°124 e N.°125. Coimbra, Janeiro e Fevereiro de 1954, pp.45 e 93) ou a conferência Conflito e Unidade da Arte Contemporânea (Iniciativas Editoriais. Lisboa, 1958). Sem falar ri A Paleta e o Mundo. voltar ao texto
11 Mário Sacramento, Fernando Pessoa, poeta da Hora Absurda. Contraponto. Lisboa, s/d, p.14. voltar ao texto
12 Mário Dionísio, «Alberto Caeiro, poeta de classe». Ler. Lisboa, 8.11.52. Eduardo Lourenço, «Explicação pelo inferior ou a crítica sem classe». O Primeiro de Janeiro. Porto, 26.11.52. voltar ao texto
13 Mário Dionísio, «Une voix qui nous manque». Europe, N.-91-92. Paris. 1953. voltar ao texto
14 Aragon, L’homme communiste. Vol. II. Gallimard Paris, 1953, p.133. voltar ao texto
15 Aragon, La mise à mort. Gallimard. Paris, 1965. Vejam-se especialmente as páginas dedicadas à morte e ao funeral de Gorki. voltar ao texto
16 Nota introdutória à 2.a edição de A Paleta e o Mundo, vol.I, p.7 in «Obras de Mário Dionísio», Vol.5. Publicações Europa-América. Mem Martins, 1973. voltar ao texto
17 José-Augusto França, A Arte e a Sociedade Portuguesa no Século XX. Livros Horizonte. Lisboa, s/d, p.67 e A Arte em Portugal no Século XX. Livraria Bertrand. Lisboa, 1974, p.371. voltar ao texto
18 Cf. Mário Dionísio, Encontros em Paris. Ed. Vértice. Coimbra, 1951, pp. 18, 19, 21. voltar ao texto
19 Foi a Alianza Editorial, que traduziu a sua primeira parte: Introducción a la pintura. El libro de bolsillo Madrid 1972. voltar ao texto
20 O Grande Prémio de Ensaio foi atribuído uma só vez pela Sociedade Portuguesa de Escritores (devido ao encerramento desta pelos esbirros de Salazar) e sob o patrocínio da Fundação Gulbenkian. Teve o seguinte júri: Adriano de Gusmão, Augusto Saraiva, Luís Albuquerque, Paulo Quintela, Vergílio Ferreira. Na entrega do Prémio e antes do premiado, discursou Vergílio Ferreira (Ver «A Paleta e o Mundo», Espaço do Invisível. Portugália. Lisboa, 1965, p. 171). Uma ane dota verdadeira: no momento solene em que Azeredo Perdigão me entregou o almejado sobrescrito, nem ele nem o público sabiam que tal sobrescrito não tinha nada dentro... Houvera qualquer trapalhada de cheques, de que me tinham particularmente avisado. Recebi o sobrescrito com o abraço da praxe, muitas palmas, etc, mas só no dia seguinte entrei na posse do dinheiro. Foi uma festa para quem estava no segredo... É-me grato registar que esta obra, cuja 1.ª edição foi publicada em fascículos, só pôde concorrer ao Prémio graças aos esforços do Editor e meu velho amigo Francisco Lyon de Castro, que conseguiu ter concluídas a impressão e a encadernação dos volumes antes do fim de Dezembro de 1962. voltar ao texto
21 Bento de Jesus Caraça, «Algumas Reflexões sobre a Arte». Conferência e Outros Escritos. Lisboa, 1970, p.179. voltar ao texto
22 Ver o artigo de Mário Neves, «PEN Club português, uma história com 40 anos». JL. Lisboa, 11.5.87. voltar ao texto
23 Mário Dionísio, «Escreviver». Palavras, N.°9. Lisboa, Dezembro de 1986, p.53. voltar ao texto
24 Era o desenvolvimento das que realizara no Colégio Moderno. O seu Director, Dr. João Soares, além do trabalho especificamente pedagógico, levava a cabo uma actividade cultural dirigida aos alunos mais velhos e respectivas famílias. Aí, a seu convite, pronunciei, não só a citada série, como uma palestra, no 20.° aniversário do Colégio, «Enfado ou prazer: problema central do ensino» (depois publicada, por interferência de Rui Grácio, na revista Labor, N.°162. Aveiro, Dezembro de 1956) e ainda outra, de introdução à leitura de modernos poetas portugueses.
voltar ao texto25 Mário Sacramento, «Breve Reflexão sobre A Paleta e o Mundo de Mário Dionísio». Vértice, N.°160-161. Coimbra, 1957, p.38. Luso do Carmo (aliás Óscar Lopes), «Crítica do Livro». Comércio do Porto. Porto, 12.2.57. voltar ao texto
26 Entretanto, ao leitor interessado na vulgarmente chamada «polémica interna do neo-realismo», será indispensável conhecer estes dois grupos de textos, todos eles publicados na revista Vértice, de Coimbra:
I. polémica António José Saraiva-João José Cochofel: Cocho-fel, «Notas soltas acerca da arte, dos artistas e do público» (Vol.XII, N.°107, Julho de 52, pp. 343-349); Saraiva, «Problema mal posto» (Vol.XII, N.°109, Setembro de 52, pp.495-499); Cochofel, «Problema falseado» (Vol.XII, N.°109, Setembro de 52, pp.500-504); Saraiva, «Comentários — A propósito dum lugar comum» (Vol.XIV, N.°128, Maio de 54, pp.286-288); Cochofel, «Uma carta» (Vol.XIV, N.°130, Julho de 54, pp.421-422); «Uma carta do nosso colaborador António José Saraiva» (Vol.XIV, N.°133, Outubro de 54, p.569); Redacção, «Encerramento duma polémica» (Vol.XIV, N.°135, Dezembro de 54, pp.726-727). II. Mário Dionísio, «O Sonho e as Mãos» (Vol.XIV, N.° 124, Janeiro de 54, pp.33-37 e N.°125, Fevereiro de 54, pp.93-101); António Vale (aliás Álvaro Cunhal), «Cinco notas sobre forma e conteúdo» (Vol.XIV, N.°131-132, Agosto--Setembro de 54, pp. 466-484); «Uma carta do nosso colaborador Mário Dionísio» (Vol.XIV, N.°133, Outubro de 54, pp.566-568); «Uma carta do nosso colaborador Fernando Lopes Graça» (Vol.XIV, N.°134, Novembro de 54, pp.645--646). voltar ao texto
27 Cf. entrevista a O Jornal. Lisboa, 13.10.78. voltar ao texto
28 Patrícia Highsmith, A criação do suspense. Trad. portuguesa. Relógio d'Àgua Editores. Lisboa, s/d. voltar ao texto
29 Neste país, novamente tão zeloso da sua «identidade nacional», há uma agência da Caixa Geral dos Depósitos, onde se chamam os clientes ao balcão, dizendo o número das respectivas fichas em inglês! É o Turismo, claro, é o Turismo, para que somos profundamente «vocacionados». Isto de se «ser vocacionado para» é um mimo linguístico, não é? voltar ao texto
30 Júri: Jacinto do Prado Coelho, António Ramos Rosa, Maria da Glória Padrão. voltar ao texto
31 Manuel Ferreira, no seu artigo «Monólogo a duas vozes: a reabilitação do conto» (JL, 19.1.87) refere-se a este desinteresse, entre nós, pela história curta, quanto a ele, «tão exigente, severa, implacável que não se compadece com descuidos por ínfimos que sejam». Também Maria Lúcia Lepecki teria algo de isto em mente ao dizer que parte das histórias do mesmo livro «seriam antes micro-romances», não querendo dizer com isso «embriões de romances a serem eventualmente desenvolvidos», mas «romances concentrados no mínimo espaço possível com toda a redução textual que a 'minimização' em história disciplinou e, com todo o alargamento de significados que o texto exige porque implícita, alude e sintetiza la-pidarmente um conjunto quase infinito de informações» («Artes e Manhas». Diário de Noticias. Lisboa, 13.3.87). voltar ao texto
32 Cf. Mário Dionísio, «Para a História da resistência Portuguesa». Diário de Notícias. Lisboa, 5.3.75. voltar ao texto
voltar a Biografia Mário Dionísio
voltar a Alguns textos de Mário Dionísio
André Spencer e F. Pedro Oliveira para Casa da Achada - Centro Mário Dionísio | 2009-2022